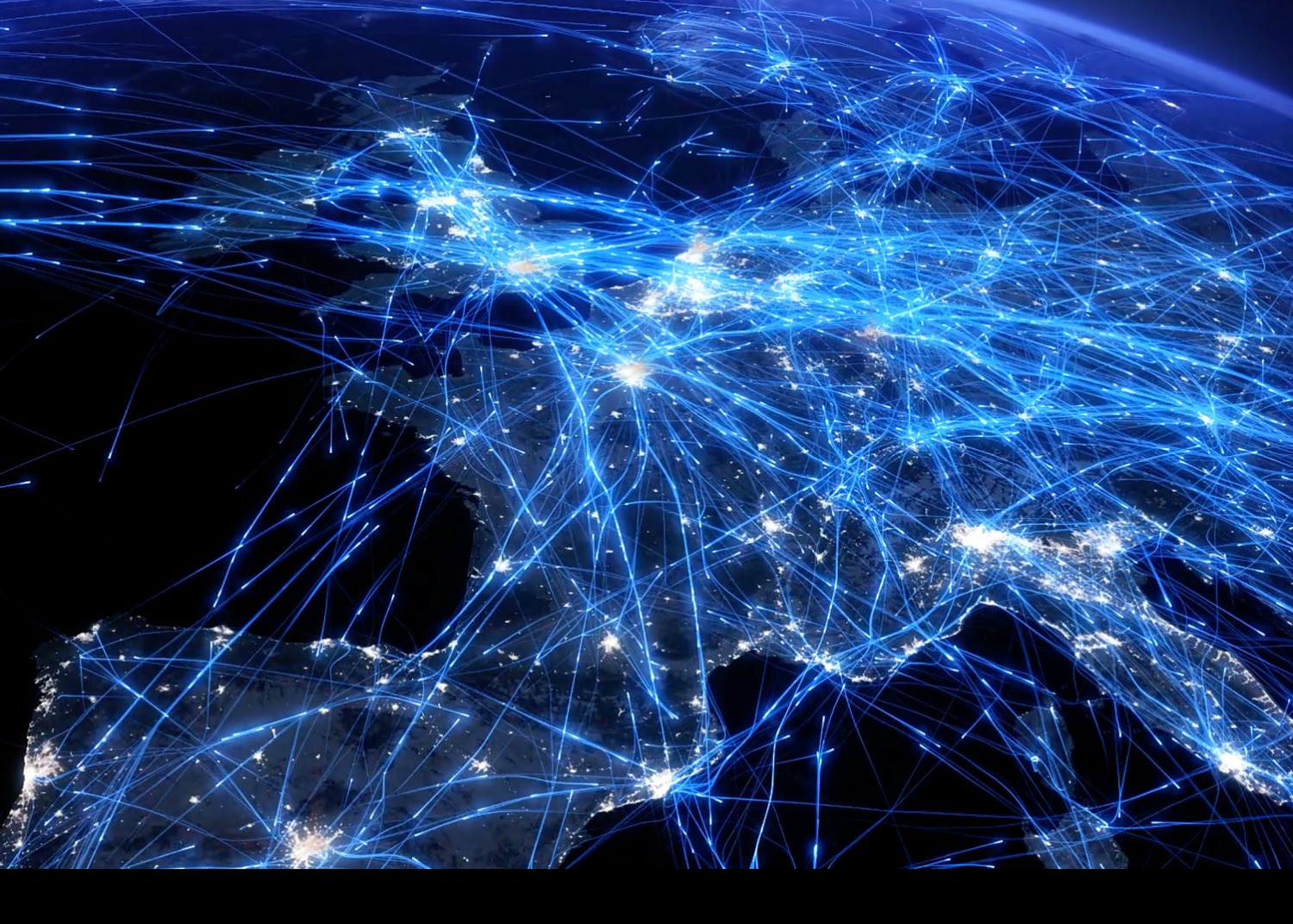19 Outubro 2016
ãEis o nosso desafio. Sair da pele midiûÀtica eletrûÇnica e exercer plenamente a comunicaûÏûÈo, que significa um encontro radical com o Outro, sem o qual nûÈo existimosã, escreve Rosane Borges, jornalista, professora colaboradora do Centro de Estudos Latino-Americanos em ComunicaûÏûÈo e Cultura (Celacc-USP) e pû°s-doutoranda em Ciûˆncias da ComunicaûÏûÈo (USP), em artigo publicado por CartaCapital, 19-10-2016.
Eis o artigo.
A internet e as redes sociaisô tûˆm o poder de descortinar, inecessantemente, um mundo de maravilhas. PartûÙcipes de formas de comunicaûÏûÈo e expressûÈo mais horizontais e democrûÀticas, franqueadas pelo mundo digital, temos tudo (ou quase tudo) ao nosso alcance com um simples toque. Transporte fûÀcil (Uber), acesso a comida e bebida (OpenRice, JustEat), amor e sexo (Tinder, Grindr).
Com as redes sociais, desprovincianizamos o mundo, pagamos, sem perceber, ingresso û praûÏa moderna do mercado onde se expressam publicamente pensamentos, onde se trocam ideias, notûÙcias e informaûÏûçes variadas circulam.
Neste ambiente tecnolû°gico, experimentamos um modo de vida sem precedentes, proclamam os mais entusiastas. Atûˋ aûÙ nenhuma novidade.
Mas, eis que vez por outra ouvimos rumores que contrariam tûÈo propalado prognû°stico. Para muitos, as redes sociais nûÈo conseguem nos arrancar do nosso oceano particular, do invû°lucro que nos protege do mundo.
Exemplos escapolem em forma de decepûÏûÈo: as eleiûÏûçes para prefeito da cidade de SûÈo Paulo foi uma mostra exemplar que corroborou que a nossa timeline nûÈo ûˋ, necessariamente, espelho do mundo, como û s vezes parecemos acreditar.
Dias antes das eleiûÏûçes, um tom de euforia e esperanûÏa marcou postagens no Facebook, que arriscavam um segundo turno com o atual prefeito Fernando Haddad na jogada. Apresentado o resultado, alguns passaram a dizer: ãû, realmente o Facebook ûˋ uma bolha. Tanta gente na minha rede que dizia votar no Haddad....ã.
Em tom de exortaûÏûÈo, outros retrucavam: ãE hora de sairmos das redes sociais, pois enquanto apostavamos, baseados no desempenho de nossa timeline, que haveria segundo turno com Haddad, ficamos sû° na saudadeã. E assim um rosûÀrio de queixas foi se formando.
Os rapazes do Vale do SilûÙcio nûÈo deixam margem û dû¤vida. O que jûÀ era uma tendûˆncia, virou regra. Cada vez mais somos envolvidos em postagens que nos aproximam, assustadoramente, dos mais prû°ximos: postagens fofas de casamento, nascimento de bebûˆs, fotos felizes de famûÙlias ideais, notûÙcias sobre temas com os quais temos afinidade, escassez de debate e de crûÙtica consequentes. E cada vez menos nos deparamos com pessoas que pensam diferente.
Essa prûÀtica nos afasta de uma abertura ao outro, propicia limitaûÏûçes cognitivas. O recurso ûˋ aparentemente simples: ao oferecermos informaûÏûçes sobre nû°s mesmos (onde estamos, para onde vamos, que site costumamos visitar, quem sûÈo nossos familiares, amigos, companheiros), somos diuturnamente monitorados, e essa infinidade de dados ûˋ controlada por poucas empresas, que passam a ser donas de nossas informaûÏûçes pessoais. Os algoritmos, ãgentilmenteã, nos oferecem o que, supostamente, ûˋ melhor pra gente.
JoûÈo Carlos MagalhûÈes, pesquisador da London School of Economics, abrevia pedagogicamente o funcionamento dos algoritmos: ã(..) sûÈo usados para decidir automaticamente o que ûˋ mais ou menos relevante e deve portanto ser mais ou menos visto. O que vai ou nûÈo estar no seu feed de notûÙcias, o que vai estar na primeira ou na terceira pûÀgina de sua busca no Google."
"Essa personalizaûÏûÈo profunda", continua ele "sû° ûˋ possûÙvel pois os dados produzidos pelos sensores (e por nû°s mesmos) ajudam a treinar os algoritmos sobre o que nos interessa, e permitem que os sistemas sejam constantemente afinados para refletir nossas supostas preferûˆnciasã.
Com os algoritmos, descobrimos que a mercadoria somos nû°s, nossos pares de olhos (a mais-valia da sociedade da hipervisibilidade), nossos desejos. Os desdobramentos disso jûÀ se fazem sentir: homogeneizaûÏûÈo das identidades, padronizaûÏûÈo de gostos (com a Netflix nos indicando filmes porque nosso amigo assistiu), empobrecimento da curiosidade cultural...
Nada deve ficar opaco, tudo deve aspirar û transparûˆncia.
û um estûÀgio do capitalismo em que tudo deve ser apropriado, colonizado. Se nûÈo estou enganada, ûˋ de Walter Benjamin a afirmaûÏûÈo segundo a qual a û¤nica coisa que o capitalismo nûÈo consegue colonizar ûˋ aquilo que a gente tem de mais esquisito, as nossas singularidades inimitûÀveis.
No entanto, na sua sede de tudo engolfar, o capitalismo avanûÏa em territû°rios atûˋ entûÈo protegidos. O historiador Jonathan Crary alerta que jûÀ vivemos sob a lû°gica da sociedade 24/7 (a que pouco ou nada dorme) e que ãnossa necessidade de repouso e sono ûˋ a û¤ltima fronteira ainda nûÈo ultrapassada pela lû°gica da mercadoriaã.
No entanto, pesquisas estûÈo sendo financiadas para acharem a fû°rmula do ãhomem sem sonoã, do homem 24/7. Tablets e celulares, para o historiador, vûÈo nos acostumando a ficar sempre ligados, a serviûÏo de notûÙcias e postagens que a um toque, a qualquer alerta sonoro nos desperte.
Esse abatimento do homem em quase todos os domûÙnios, em que o seu mundo circundante ûˋ o que parece importar, nos leva a pensar no lugar em que a gente se pûçe no mundo via Facebook, em particular, e redes sociais, em geral.
Tentando, nesse ambiente, responder û pergunta de Martin Heiddeger, ãOnde estamos quando estamos no mundo?, podemos precariamente ajuizar que estamos abrigados em bolhas ou clusters de relacionamento.
Estamos, no dizer do tambûˋm filû°sofo alemûÈo Peter Sloterdijk, em esferas/bolhas que nos protegem dos perigos e da falta de camadas protetoras, caracterûÙstica prû°pria da ûˋpoca moderna.
Arremata Sloterdijk: ãRedes e polûÙticas de seguranûÏa devem, agora, ocupar o lugar das camadas celestiais; a telecomunicaûÏûÈo deve fazer as vezes do abraûÏo circundante. Envolto em uma pele midiûÀtica eletrûÇnica, o corpo da humanidade deve criar para si uma nova composiûÏûÈo imunitûÀriaã.
Eis o nosso desafio. Sair da pele midiûÀtica eletrûÇnica e exercer plenamente a comunicaûÏûÈo, que significa um encontro radical com o Outro, sem o qual nûÈo existimos.
Num mundo em que as ameaûÏas globais residem na falta do exercûÙcio de alteridade, a perseguiûÏûÈo do outro em todas as latitudes do planeta deriva de um mundo enclausurado em seu prû°prio umbigo, um mundo de incomunicabilidade, de muita opiniûÈo (santo Facebook) e pouca reflexûÈo.
Donald Trump, Brexit, a ascensûÈo da direita xenû°foba europeia e o ataque a programas sociais no Brasil podem ser vistos como elementos de uma mesma equaûÏûÈo. NûÈo ûˋ û toa que os espaûÏos material e digital se mostram intolerantes e pouco dispostos a pensarem coletivamente.
Se a tûˋcnica nûÈo ûˋ neutra, podemos, sem exageros, avistar conexûçes entre a polûÙtica, a economia e a tecnologia para tentarmos alguma chance de explicaûÏûÈo do presente complexo.
û preciso que se diga que, para alûˋm dos motivos em circulaûÏûÈo (crise do capital, globalizaûÏûÈo e tantos outros diagnû°sticos grandiloquentes), a reatualizaûÏûÈo de prûÀticas racistas, sexistas e xenofû°bicas pode tambûˋm ser compreendida por meio do enunciado, expresso assim de maneira curta e grossa: û o algoritmo, estû¤pido!
Leia mais
- Cidadania vigiada. A hipertrofia do medo e os dispositivos de controle. Revista IHU On-Line, n 495.
- Algoritmos devem ser debatidos. Revista IHU On-Line, n 495.
- A silenciosa ditadura do algoritmo
- Entenda a polûˆmica do aplicativo Uber
- Para subverter o ãcapitalismo de compartilhamentoã
- Zuckerberg, do Facebook, entra para a arena polûÙtica
- O Facebook comprou um problema?
- ãO Google sabe o que vocûˆ estava pensandoã, diz Assange
- ãO Google nos espiona e informa o Governo dos Estados Unidosã. Entrevista com Julian Assange
- Como o Google ganha dinheiro?
- Como descobrir tudo que o Google sabe de vocûˆ - e como apagar seu rastro
- O que o Google sabe de vocûˆ