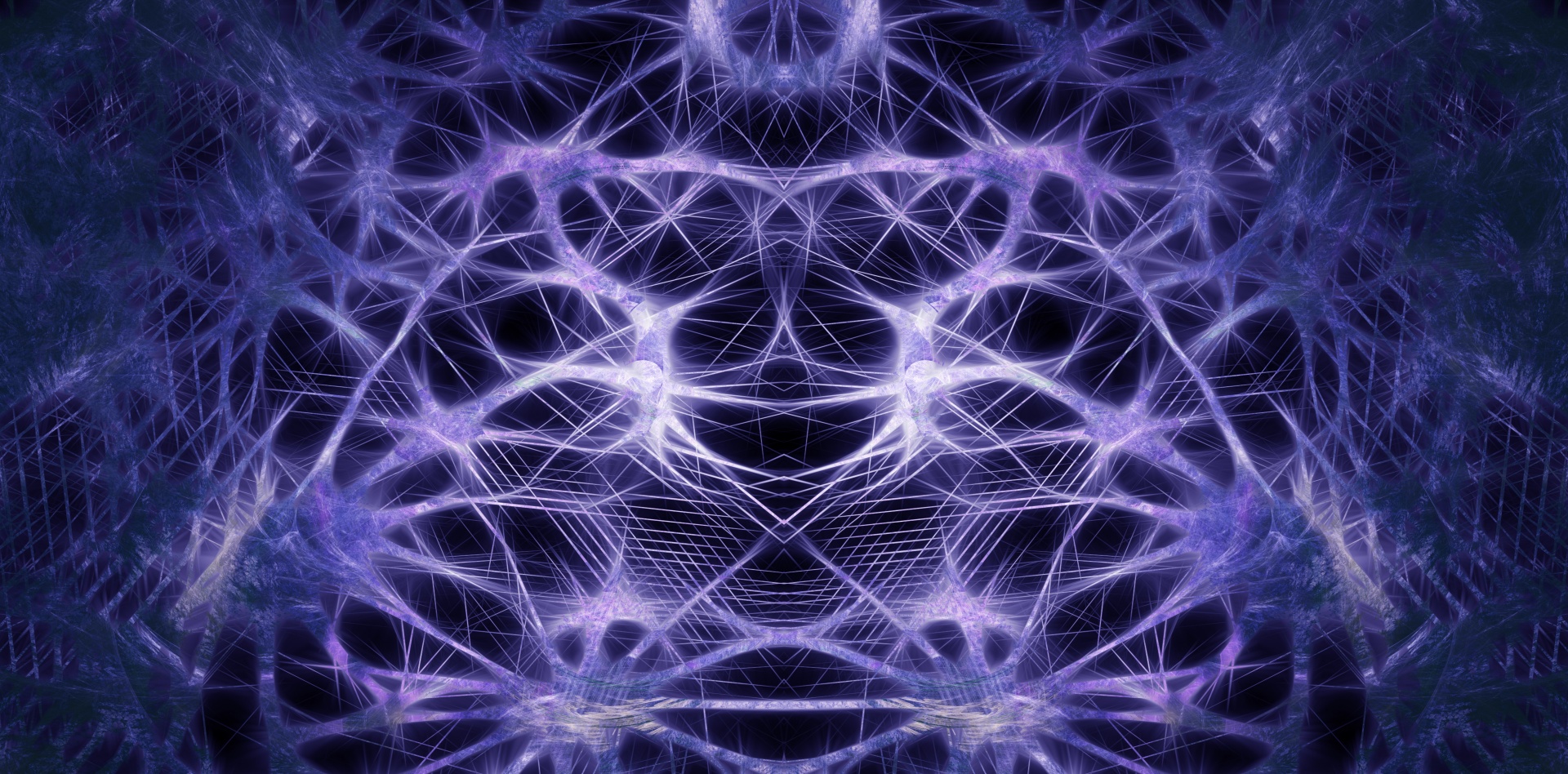17 Outubro 2020
O coronavûÙrusô alterou muitos papûˋis e forûÏou muitos e diferentes atores a se posicionar. Um deles foram as redes sociais, antes cûÇmodas em seu papel de ûÀrbitro que quer parecer invisûÙvel, mas û s quais ão tsunami de desinformaûÏûÈo dos primeiros meses da pandemia fez com que, pela primeira vez, se decidissem a intervir no discurso pû¤blicoã, como explica em entrevista Raû¤l Magallû°n, professor de Jornalismo na Universidade Carlos III [Madrid, Espanha] e autor de Desinformaciû°n y pandemia. La nueva realidadô (Editora PirûÀmide).
Nesta quinta-feira (15-10), o Facebookô e o Twitter foram um pouco alûˋm. As duas empresas interviram para impedir a viralizaûÏûÈo em suas plataformas de uma notûÙcia elaborada por um tabloide que poderia influenciar a campanha eleitoral estadunidense e de duvidosa veracidade, devido û origem da informaûÏûÈo. Agiram antes que os meios especializados em verificaûÏûÈo de informaûÏûÈo fizessem um alerta sobre o conteû¤do, tomando uma decisûÈo inûˋdita atûˋ agora para estas redes. Um papel intervencionista que Magallû°n, um dos principais especialistas espanhû°is em desinformaûÏûÈo, acredita que continuaremos vendo no futuro, mas que, em sua opiniûÈo, precisa de ãmais transparûˆnciaã.
A entrevista ûˋ de Carlos del Castillo, publicada por El DiûÀrio, 15-10-2020. A traduûÏûÈo ûˋ do Cepat.
Eis a entrevista.
Qual ûˋ a sua avaliaûÏûÈo da decisûÈo que o Facebook e o Twitter tomaram, ao restringir o alcance de uma notûÙcia do New York Post de forma unilateral? Deram um passo definitivo para se tornarem ûÀrbitros da informaûÏûÈo?
û a tendûˆncia. EstûÀ claro que as redes sociais tûˆm um papel cada vez mais importante do ponto de vista polûÙtico. Tambûˋm demonstra que superamos o debate que tûÙnhamos atûˋ agora, sobre se estas empresas deveriam ser consideradas empresas tecnolû°gicas ou empresas midiûÀticas. JûÀ estûÀ claro que sûÈo algo a mais que empresas tecnolû°gicas, sûÈo atores polûÙticos com um papel editorial em relaûÏûÈo û distribuiûÏûÈo dos conteû¤dos.
A chave ûˋ que do ponto de vista da configuraûÏûÈo da esfera pû¤blica e da distribuiûÏûÈo dos conteû¤dos, tornaram-se espaûÏos de debate mais importantes que os prû°prios meios de comunicaûÏûÈo, chegando inclusive a decidir, dentro de seu prû°prio sistema de regras, quais artigos dos meios de comunicaûÏûÈo sûÈo difundidos e quais nûÈo. SûÈo um ator polûÙtico que atua como editor da informaûÏûÈo que se transmite, como tradicionalmente eram os editores dos meios de comunicaûÏûÈo.
No livro, destaca a pandemia como ponto de inflexûÈo entre esses dois papûˋis das redes sociais. Em sua primeira etapa, explica que tiveram um papel ãmais narcû°ticoã, para entreter o usuûÀrio, ao passo que nesta segunda passaram û aûÏûÈo como atores sociais e polûÙticos.
SûÈo atores sociais e polûÙticos, mas que sabemos que tûˆm uma visûÈo global e que nûÈo atual em nûÙvel local, exceto quando contam com uma sûˋrie de pressûçes por parte dos meios de comunicaûÏûÈo, da opiniûÈo pû¤blica ou de representantes pû¤blicos. û importante destacar essa independûˆncia acima dos prû°prios estados.
O tsunami de desinformaûÏûÈo dos primeiros meses da pandemia fez com que, pela primeira vez, decidissem intervir no discurso pû¤blico. Inicialmente, a motivaûÏûÈo era uma questûÈo cientûÙfica, mas agora falamos de decisûçes polûÙticas. As empresas tecnolû°gicas, que tradicionalmente tinham sido muito mais prudentes em intervir no discurso pû¤blico, decidiram restringir os conteû¤dos enganosos que tinham a ver com a Covid-19. Agora tambûˋm passaram ao terreno polûÙtico.
Apû°s restringir o artigo do New York Post, Jack Dorsey, fundador e diretor do Twitter, precisou pedir perdûÈo aos usuûÀrios por nûÈo explicar bem a decisûÈo em um primeiro momento, o que qualificou como ãinaceitûÀvelã. Vocûˆ ressalta que o principal problema do novo papel intervencionista das redes sociais ûˋ a falta de transparûˆncia.
A transparûˆncia ûˋ um elemento fundamental nas mudanûÏas que estamos vendo. Certo, aceitamos que as redes possuem algumas regras e que quem quiser entrar e participar precisa seguir suas regras. Mas agora essas regras mudam e tûˆm uma implicaûÏûÈo direta na liberdade de expressûÈo e de informaûÏûÈo, sendo fundamental que sejam transparentes em relaûÏûÈo û s tomadas de decisûçes e nisto precisam trabalhar muito mais.
No caso do Twitter, alûˋm disso, nûÈo conta com uma equipe independente de fact-checkers como o Facebook. NûÈo hûÀ um processo de verificaûÏûÈo externa e tambûˋm nûÈo se sabe como as decisûçes sûÈo tomadas. Sabemos que hûÀ uma equipe que evidentemente se baseia em uma sûˋrie de casuûÙsticas, mas seria importante que junto com cada decisûÈo houvesse um informe para explicar por que a tomam.
Mais transparûˆncia tambûˋm ajudaria a diminuir tanto ruûÙdo acerca das decisûçes das redes sociais e a entender melhor seus movimentos. Seria especialmente û¤til, alûˋm disso, nestas semanas de campanha eleitoral nos Estados Unidos. Porque o que estûÀ claro ûˋ que independentemente do que as empresas tecnolû°gicas faûÏam, serûÈo observadas e criticadas por todos os atores polûÙticos.
Os Estados deveriam entrar nesta questûÈo e decidir como as redes sociais devem exercer esse papel de ûÀrbitro?
Bem, aqui hûÀ vûÀrios debates. Dependendo das relaûÏûçes tradicionais imprensa-Estado e a forma que tivermos de tratar a liberdade de expressûÈo, cada paûÙs irûÀ agir de uma maneira muito diferente. Existe o contexto anglo-saxûÈo, onde o Estado tradicionalmente nûÈo interfere, e o contexto europeu e, sobretudo, a tradiûÏûÈo francesa, em que o Estado pode intervir para garantir o pluralismo informativo.
Em minha opiniûÈo, deverûÙamos buscar uma via intermediûÀria. Criar um organismo independente que estabelecesse um cû°digo de boas condutas. Um organismo independente em que estejam representadas empresas tecnolû°gicas, meios de comunicaûÏûÈo, a sociedade civil, fact-checkers, acadûˆmicos, que possa deliberar e tomar uma decisûÈo quando ocorram determinadas situaûÏûçes de relevûÂncia para a opiniûÈo pû¤blica. Parece-me uma soluûÏûÈo melhor do que a tentativa de que os Estados regulamentem, porque jûÀ sabemos como acaba a histû°ria quando um Estado tenta regulamentar estas questûçes. A realidade ûˋ que a maioria das ocasiûçes, e vimos isso durante a pandemia, quando se fala em regulamentar desinformaûÏûÈo, ao final, o que acontece ûˋ que se acaba limitando a liberdade de expressûÈo e informaûÏûÈo.
E o respeito û publicidade eleitoral?
Para mim esse ûˋ um ponto fundamental que nûÈo se tratou muito. Assim como acredito que temos que ser muito cuidadosos com tudo o que tem a ver com a liberdade de expressûÈo e de informaûÏûÈo. Penso que sim, que ûˋ mais fûÀcil e que deverûÙamos trabalhar em como regulamentar a publicidade digital segmentada. Por exemplo, em nosso paûÙs, o que vivemos nas eleiûÏûçes de abril e nas eleiûÏûçes de novembro ûˋ que haviam candidatos e partidos polûÙticos que continuavam enviando publicidade, que apareciam anû¤ncios polûÙticos na jornada de reflexûÈo, quando isso nûÈo ûˋ permitido.
Seria importante que deixûÀssemos claro quais sûÈo as regras do jogo a respeito de tais tipos de campanhas, uma transparûˆncia em relaûÏûÈo aos gastos de campanha eleitoral. Penso que devemos, de certa maneira, adaptar a legislaûÏûÈo ao cenûÀrio atual. Precisamente para isso, para que essa transparûˆncia nos processos eleitorais fique muito mais clara.
Como as redes sociais passaram de ser vistas como elementos democratizantes da informaûÏûÈo a ser aproveitadas por forûÏas da extrema direita para espalhar suas mensagens?
VûÀrios elementos influenciam. Precisamos voltar û crise de 2008, que ûˋ de mudanûÏa de modelo: deixamos de consumir informaûÏûÈo em papel e comeûÏamos a consumi-la de maneira digital. Isso fez com que, como bem sabemos, em nosso paûÙs houvesse muitas demissûçes, muitos fechamentos de meios de comunicaûÏûÈo, e que os recursos humanos jornalûÙsticos fossem cada vez mais limitados. Sobretudo, os da imprensa local, que tem um papel de serviûÏo pû¤blico, de ancoragem dentro de uma comunidade.
O que aconteceu? Paralelamente, as redes sociais e essa ideia inicial que tûÙnhamos delas estavam se desenvolvendo como elemento democratizante, com consequûˆncias. Quando essa imprensa local perde influûˆncia, vamos û s redes sociais, que evidentemente nûÈo razûÈo para ser fontes confiûÀveis. Que nossos amigos, nossos familiares e nossos conhecidos sejam uma fonte de confianûÏa, nûÈo significa que sejam fontes confiûÀveis de informaûÏûÈo. Essa ûˋ a mensagem que ainda nûÈo temos totalmente clara.
A partir de 2010 e 2011, a mensagem foi: compartilha, compartilha, compartilha. E agora estamos percebendo que compartilhar sem reflexûÈo a esse respeito, sem perguntar, sem verificar, tem uma sûˋrie de consequûˆncias e muitas delas tûˆm a ver, sobretudo em um cenûÀrio completamente inesperado, como ûˋ este de pandemia, com que antes de pensar em nos informar bem, nem sequer sabemos ou temos as ferramentas para nûÈo nos sentir desinformados.
Alûˋm disso, determinados atores polûÙticos encontraram nas redes sociais uma forma de fazer chegar suas mensagens a seu pû¤blico diretamente, sem que passe pelos intermediûÀrios tradicionais, pelos jornalistas. E a realidade ûˋ que, neste clima de polarizaûÏûÈo, essas mensagens estûÈo funcionando.
No livro, tambûˋm aponta que as multinacionais tecnolû°gicas demonstram que nûÈo sûÈo tûÈo capazes de solucionar seus prû°prios problemas como pensûÀvamos. û uma incapacidade real ou nûÈo fazem tudo o que podem por motivos econûÇmicos?
Sim, evidentemente em seu processo de tomada de decisûçes sûÈo importantes o fator econûÇmico e o custo do ponto de vista dos recursos humanos que precisam. Os conteû¤dos falsos sûÈo uma parte mûÙnima do que circula pelas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, para detectar os discursos de û°dio e distinguir determinadas ponderaûÏûçes, os sistemas automatizados nûÈo servem, ûˋ necessûÀria uma moderaûÏûÈo humana. O que sabemos ûˋ que essa moderaûÏûÈo humana estûÀ muito limitada por questûçes geogrûÀficas e fatores geopolûÙticos. Em determinados paûÙses que para as empresas tecnolû°gicas nûÈo sûÈo importantes, de um ponto de vista estratûˋgico e empresarial, a moderaûÏûÈo praticamente nûÈo existe.
Mas, pessoalmente, acredito que tem a ver com o fato de que consideram que sûÈo agentes supranacionais e que estûÈo acima dos Estados. Por fim, sû° atuam quando o poder polûÙtico, a opiniûÈo pû¤blica ou os meios de comunicaûÏûÈo pressionam. E sû° quando sûÈo pressionados de uma determinada forma.
Outra das tendûˆncias da desinformaûÏûÈo na pandemia foram as teorias da conspiraûÏûÈo. Como passamos dos boatos para a criaûÏûÈo de novas realidades alternativas?
Uma das principais questûçes ûˋ como separar o discurso dos fatos e, dentro disso, penso que a linguagem foi muito importante. Tem duas funûÏûçes. A primeira ûˋ descrever a realidade, como quando Ludwig Wittgenstein disse que os limites de nosso mundo sûÈo os limites de nossa linguagem. Se nûÈo temos as ferramentas das palavras adequadas para descrever o mundo em que vivemos, nûÈo poderemos compreendûˆ-lo.
A outra ûˋ a linguagem como construtora da realidade. Nesses dias, a linguagem que foi utilizada na Espanha me lembrava um pouco o livro Cû°mo mueren las democraciasô [de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt]. No livro, vûÙamos como o Tea Partyô acusava Obama de ser um ditador, um americano ruim. Agora, estamos vendo algo semelhante na Espanha. Ou seja, a linguagem ûˋ importante como uma ferramenta de construûÏûÈo social de uma realidade paralela. Nesse sentido, sim, hûÀ uma relaûÏûÈo direta, sobretudo em termos polûÙticos, que tem a ver com a ideia de gerar uma campanha polûÙtica permanente de dizer: ãaceitamos as eleiûÏûçes, mas vamos estar em campanha permanente, porque acreditamos que graûÏas a isso podemos dar forma û realidade de modo constanteã.
Depois, do ponto de vista dos ãconspiranoicosã, tambûˋm existem vûÀrias caracterûÙsticas interessantes. Uma ûˋ que o ãconspiranoicoã ûˋ herû°i e vûÙtima ao mesmo tempo. VûÙtima em relaûÏûÈo a ser a pessoa que enfrenta esses grupos de interesses ou grandes personalidades que controlam o mundo pelas sombras. Mas, ao mesmo tempo, ûˋ o herû°i e o que controla o discurso. Em um cenûÀrio de incerteza como o que tûÙnhamos na pandemia, houve determinados atores que graûÏas û conspiraûÏûÈo se ergueram como gestores do discurso que ia acima dos outros, posto que em um cenûÀrio de incerteza nûÈo sabemos o que irûÀ acontecer, mas em uma conspiraûÏûÈo, sim.
Leia mais
- DigitalizaûÏûÈo de relaûÏûçes sociais leva û instabilidade comunicacional. Entrevista especial com OtûÀvio Vinhas
- 'Redes sociais deixam sociedade mais vulnerûÀvel'
- ãAs redes sociais nos geram angû¤stia, prazer e ciû¤mesã. Entrevista com William Davies
- ãSe sua mûÀquina nas redes sociais cair, Bolsonaro acabaã, diz especialista
- Estados Unidos exigem os perfis nas redes sociais para aqueles que pedem um visto
- Uso acrûÙtico das redes sociais pode levar a manipulaûÏûÈo de consumo e massificaûÏûÈo de gostos
- Youtubers ou inquisidores, profetismo ou difamaûÏûÈo: desafios para a evangelizaûÏûÈo no universo cultural nas redes sociais
- As agressûçes nas redes sociais. Entrevista com MartûÙn Becerra e Ernesto Calvo
- Lidando com os smartphones. Acionistas da Apple na luta contra o uso excessivo de iPhone por crianûÏas
- ãO celular jûÀ nos dividiu em senhores e escravos digitaisã. Entrevista com Peter Vorderer
- ãOs celulares espiam e transmitem nossas conversas, mesmo desligadosã