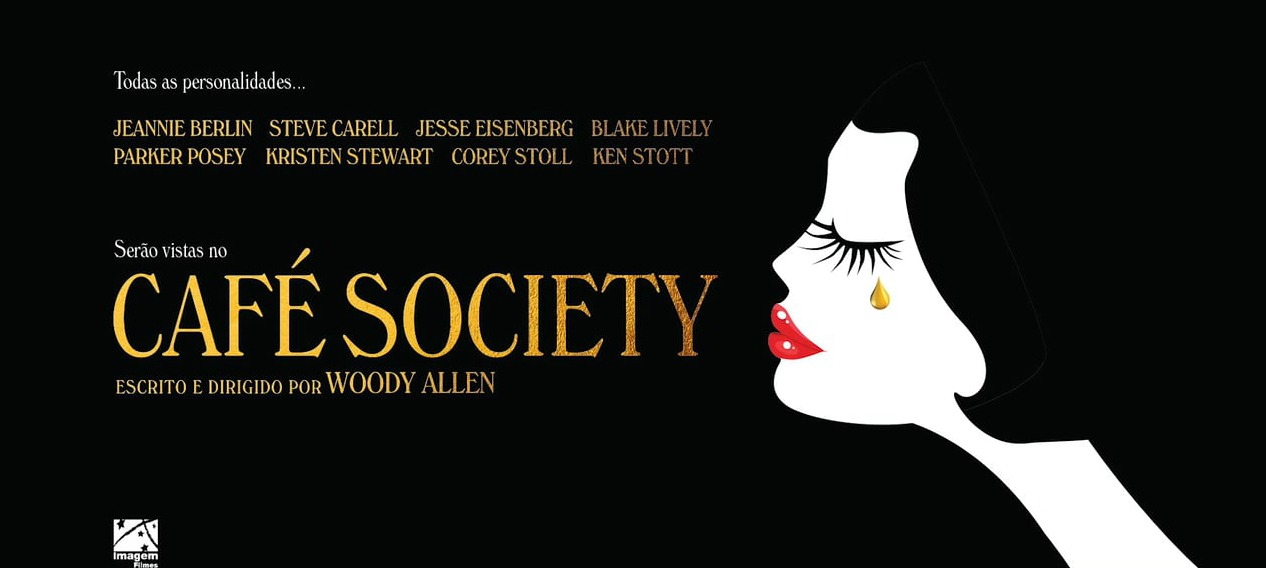15 Dezembro 2017
"Cinquenta anos depois, o filme, que volta a ser exibido, já não choca. Por isso é possível examinar, com serenidade curiosa, os recursos narrativos geniais de Luis Buñuel", escreve José Geraldo Couto, crítico de cinema e tradutor, em comentário reproduzido por Outras Palavras, 13-12-2017.
Eis a crítica.
Um clássico é uma obra que continua viva ao longo do tempo, e que é recebida de uma maneira diferente a cada geração. É o caso de A bela da tarde (1967), de Luis Buñuel, que volta aos cinemas do país em cópia restaurada, meio século depois de feito.
É provável que seu impacto hoje seja bem diferente, desprovido do alvoroço de cinquenta anos atrás. Numa época como a nossa, de exposição ostensiva da intimidade e de espetacularização publicitária das mais diversas perversões, dificilmente chocará alguém a história da jovem senhora burguesa Séverine (Catherine Deneuve) que, escondida do marido, se prostitui das duas às cinco da tarde num bordel de Paris.
O real e o imaginário
Assentada a poeira do escândalo, fica mais fácil atentar para o engenho e a arte de Buñuel para criar um universo próprio, inimitável, que funde (e confunde) as dimensões do real e do onírico.
Fiel ao princípio básico do surrealismo, que via essas duas dimensões como vasos comunicantes e não como mundos claramente separados, o diretor espanhol foi depurando ao longo das décadas sua linguagem e se afastando das técnicas originais do movimento. Em lugar da “escrita automática” e da associação aleatória de imagens de seus primeiros filmes, desenvolveu um rigoroso método de construção narrativa que insere o espectador “imperceptivelmente” num espaço onde, de certo modo, tudo é real. (“O que é admirável no fantástico é que não existe mais o fantástico: só o que existe é o real”, escreveu André Breton.)
Tal método se serve de elementos da chamada decupagem clássica, deslocando-os sutilmente, de modo a criar uma estranheza que, no entanto, não chega a afastar o espectador nem o leva a romper a “suspensão da descrença” necessária à eficácia de toda ficção.
O começo de A bela da tarde é exemplar nesse sentido. Ouvimos um tilintar de cincerros, vemos uma carruagem aberta percorrendo uma alameda e em seguida seus ocupantes: dois cocheiros taciturnos e um sorridente casal de jovens belos e apaixonados, Séverine e Pierre (Jean Sorel). A conversa destes dois é uma adocicada troca de juras de amor até que, de uma hora para outra, algo na conversa faz com que Pierre mude abruptamente de humor, forçando Séverine a descer e instigando os cocheiros a açoitá-la, amarrada a uma árvore. Corta para um plano aproximado de Séverine na cama de seu luxuoso apartamento, com o marido lhe perguntando em que estava pensando. Concluímos que toda a cena anterior se passou na fantasia da protagonista.
Pois bem. Essa fronteira entre o vivido e o imaginado, entre o sonho e a vigília, nunca mais será tão nítida ao longo do filme. As passagens de um lado a outro do espelho serão cada vez mais imperceptíveis e dúbias. O som dos cincerros, que é a primeira coisa que ouvimos, ainda na sequência dos créditos, servirá quase sempre como senha sutil para essa travessia. Mas não há nunca uma garantia de que estamos lá ou cá. Estamos num filme de Buñuel, isso é tudo.
Mesmo uma sequência que já se inicia com os signos da fantasia – a carruagem aberta, os cincerros, os cocheiros taciturnos –, como aquela em que Séverine é abordada numa mesa de café ao ar livre por um aristocrata misterioso, acaba se construindo com tal riqueza de detalhes realistas que somos levados a acreditar piamente no que estamos vendo. Uma observação à parte: é nessa mesma cena, no café ao ar livre, que o próprio Buñuel faz uma aparição à la Hitchcock, tomando um drink numa mesa.
Buñuel era mestre em manipular a credulidade do espectador, essa nossa necessidade de criar continuidade e sentido mesmo onde não há. Um exemplo célebre é o da utilização de duas atrizes radicalmente distintas (Angela Molina e Carole Bouquet) no papel da mesma personagem em Esse obscuro objeto do desejo.
Em A bela da tarde, a mise-en-scène do diretor parece tão “transparente”, tão desprovida de firulas e efeitos, que fica difícil detectar onde estão seus truques, seus macetes para envolver a plateia. Um procedimento recorrente é o breve e às vezes um pouco brusco movimento de câmera com que, ao final de certos planos, ele dirige nosso olhar para um objeto (um telefone, uma foto, um vaso espatifado) cujo significado nem sempre é óbvio, mas que ajuda a compor uma associação de ideias e sensações.
A bela e a dama
À parte isso, há a escolha impecável do elenco: Jean Sorel como o marido bonito, saudável e anódino; Michel Piccoli como o amigo cínico e insidiosamente lúbrico; Pierre Clementi como um misto de gângster turbulento, dândi e poeta maldito. E, claro, a escolha certeira de Catherine Deneuve.
Hitchcock dizia que Kim Novak, assim como Marilyn Monroe, era dessas mulheres que têm “o sexo estampado no rosto”. Catherine, ao contrário, tem uma beleza fria, perfeita, de estátua, que sugere algo inatingível, a ser mais adorado do que propriamente desejado. Jogar com essa imagem de frieza, inseri-la num âmbito de fantasias e práticas sadomasoquistas, é mais um testemunho do engenho diabólico de Buñuel (se bem que Polanski já havia esboçado a proeza em Repulsa ao sexo).
A bela da tarde é baseado no romance homônimo de Joseph Kessel, publicado em 1928. No livro, a par de algumas diferenças no enredo, sobretudo no desfecho, a narrativa era mais estritamente realista, e todos os nexos, inclusive os psicológicos, estavam dados. Com a ajuda de seu roteirista habitual, Jean-Claude Carrière, Buñuel moldou esse material à sua maneira, apropriou-se dele, inseriu-o em seu belo e estranho mundo.
Para o espectador brasileiro, talvez seja interessante cotejar A bela da tarde (livro e filme) com A dama do lotação (conto de Nelson Rodrigues, filme de Neville d’Almeida). Em ambos há uma mulher burguesa insatisfeita sexualmente no casamento “perfeito” que se entrega a homens anônimos numa vida paralela de depravação. A narrativa de Nelson Rodrigues tem como centro (mais no texto do que no filme) o ciúme do marido; em A bela da tarde (mais no filme do que no livro), ao contrário, o personagem do marido quase desaparece. O que importa é a libido complexa e incompreensível – até para ela própria – dessa mulher fascinante, que talvez esteja para a esposa burguesa do século XX como Madame Bovary estava para a do século XIX.
Assista ao trailer: