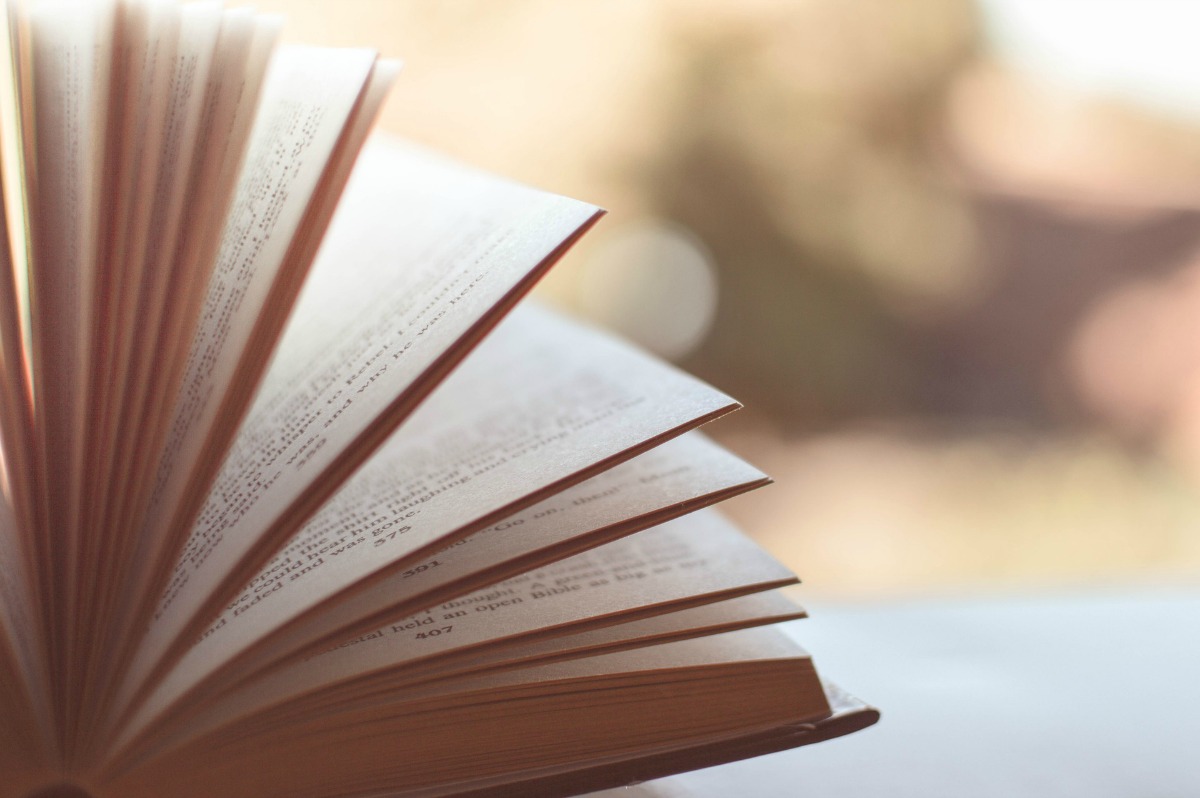15 Fevereiro 2025
"O sentido da revelação é que o homem pode revelar o que existe por meio da linguagem, mas não pode revelar a própria linguagem. Em outras palavras: o homem vê o mundo por meio da linguagem, mas não vê a linguagem. Essa invisibilidade do revelante no que ele revela é a palavra de Deus, é a revelação".
O artigo é do filósofo italiano Giorgio Agamben, publicado por La Stampa, 07-02-2025. A tradução é de Luisa Rabolini.
Eis o artigo.
Qualquer um que tenha sido educado ou simplesmente criado em um ambiente cristão ou judaico tem alguma familiaridade com a palavra: revelação. Essa familiaridade não significa, entretanto, que ela seja capaz de definir seu sentido. Gostaria de começar estas minhas reflexões justamente com uma tentativa de definir o termo. Pois tenho certeza de que uma definição correta não é irrelevante para o tema do nosso encontro nem estranha ao âmbito da filosofia, ou seja, daquele discurso que, como já foi dito, pode falar de tudo, desde que fale antes do fato que fala desse tudo. O traço constante que caracteriza toda concepção de revelação é sua heterogeneidade em relação à razão. Isso não significa simplesmente - embora os padres da Igreja tenham frequentemente insistido nesse ponto - que o conteúdo da revelação deve necessariamente parecer absurdo para a razão.
A diferença que está em questão aqui é algo muito mais radical, que diz respeito ao próprio plano em que a revelação se situa, ou seja, sua própria estrutura. Uma revelação cujo conteúdo - por mais absurdo que seja, por exemplo, que jumentos cor-de-rosa cantam no céu de Vênus - fosse, no entanto, algo que a razão e a linguagem humanas poderiam dizer e conhecer com suas próprias forças, deixaria, por isso mesmo, de ser uma revelação. O que ela nos dá a conhecer deve ser algo que não apenas não poderia ter sido conhecido sem a revelação, mas, mais ainda, tal a condicionar a própria possibilidade de um conhecimento em geral. É essa diferença radical no plano da revelação que os teólogos cristãos expressam ao dizer que o conteúdo único da revelação é o próprio Cristo, ou seja, o Verbo de Deus, e os teólogos judeus afirmando que a revelação de Deus é o seu nome.
Quando São Paulo quer explicar aos Colossenses o sentido da economia da revelação divina, escreve: “para cumprir a palavra de Deus o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto” (Col.1, 26-27). Nessa frase, “o mistério” (to mystèrion) é uma aposição de “a palavra de Deus” (ton logon tou theou). O mistério que estava oculto e agora é revelado não diz respeito a este ou àquele evento mundano ou supermundano, mas simplesmente à palavra de Deus. Se a tradição teológica, portanto, sempre entendeu a revelação como algo que a razão humana não pode conhecer por si mesma, isso só pode significar o seguinte: o conteúdo da revelação não é uma verdade que pode ser expressa por meio de proposições linguísticas sobre o que existe (mesmo que seja o ser supremo), mas, sim, uma verdade que diz respeito à própria linguagem, ao próprio fato de que a linguagem (e, portanto, o conhecimento) existe. O sentido da revelação é que o homem pode revelar o que existe por meio da linguagem, mas não pode revelar a própria linguagem. Em outras palavras: o homem vê o mundo por meio da linguagem, mas não vê a linguagem. Essa invisibilidade do revelante no que ele revela é a palavra de Deus, é a revelação.
É por isso que os teólogos dizem que a revelação de Deus é, ao mesmo tempo, seu encobrimento ou, mais ainda, que no verbo, Deus se revela como incompreensível. Não se trata simplesmente de uma determinação negativa ou de um defeito do conhecimento, mas de uma determinação essencial da revelação divina, que um teólogo expressou nestes termos: “visibilidade suprema na mais profunda escuridão” e “revelação de um incognoscível”. Mais uma vez, isso só pode significar o seguinte: o que é aqui revelado não é um objeto, sobre o qual haveria muito a saber e que não é possível saber devido à falta de instrumentos adequados de conhecimento: revelado aqui é o próprio desvelamento, o próprio fato de que há abertura de um mundo e conhecimento. Nesse horizonte, a construção da teologia trinitária aparece como a tentativa mais rigorosa e mais coerente de pensar o paradoxo daquele status primordial da palavra que o prólogo do Evangelho de João expressa ao dizer: en archè èn ho logos, “no princípio era o Verbo”.
O movimento unitrinitário de Deus, que se tornou familiar para nós por meio do símbolo niceno (“Credo in unum deum...”), não diz nada sobre a realidade intramundana, não tem nenhum conteúdo ôntico, mas é responsável pela nova experiência da palavra que o cristianismo trouxe ao mundo; para usar os termos de Wittgenstein, não diz nada sobre como o mundo é, mas revela que o mundo é, que a linguagem é. A palavra, que é absolutamente no princípio, que é, portanto, o pressuposto absoluto, não pressupõe nada além de si mesma, não tem nada antes dela que possa explicá-la ou desvelá-la por sua vez (não há palavra para a palavra) e sua estrutura trinitária nada mais é que o movimento de sua própria autorrevelação. E essa revelação da palavra, esse não pressupor nada que é o pressuposto único, é Deus: “E o verbo era Deus” (Jo 1,1). O sentido próprio da revelação é, portanto, aquele de mostrar que toda palavra e todo conhecimento humano têm uma raiz e um fundamento em uma abertura que os transcende infinitamente; mas - ao mesmo tempo - essa abertura só diz respeito à própria linguagem, à sua possibilidade e à sua existência. Como dizia o grande teólogo judeu e líder da escola neokantiana Hermann Cohen, o sentido da revelação é que Deus não se revela em algo, mas a algo, e que, portanto, a sua revelação nada mais é do que die Schöpfung der Vernunft, a criação da razão.
Revelação não significa este ou aquele enunciado sobre o mundo, não o que pode ser dito por meio da linguagem, mas que a palavra, que a linguagem são. Mas o que pode significar uma asserção desse tipo: a linguagem é? É nessa perspectiva que devemos olhar para o lugar clássico onde o problema da relação entre revelação e razão foi posto, ou seja, o argumento ontológico de Anselmo. Pois, como foi imediatamente objetado a Anselmo, não é verdade que a simples pronúncia do nome Deus, de quid maius cogitari nequit, implique necessariamente a existência de Deus.
Mas um ser cuja mera nomeação linguística implica a existência existe, e é a linguagem. O fato de eu falar e de alguém ouvir não implica a existência de nada - exceto da linguagem. A linguagem é aquilo que deve necessariamente pressupor a si mesma. O que o argumento ontológico prova é, portanto, que, se os homens falam, se existem animais racionais, então há uma palavra divina, no sentido de que já há sempre aí a preexistência da função significante e abertura da revelação (somente nesse sentido - isto é, somente se Deus é o nome da preexistência da linguagem, de sua morada na archè - o argumento ontológico prova a existência de Deus).
Leia mais
- Conjuntura e revolução. Artigo de Giorgio Agamben
- Por uma filosofia do testemunho. Giorgio Agamben
- O rosto e a morte. Artigo de Giorgio Agamben
- Deus existe?
- Por que me importa se Deus existe. Artigo de Jesús Martínez Gordo
- Se Deus existe como as coisas existem, então Deus não existe. Artigo de Leonardo Boff
- O cristianismo de libertação e a revelação como processo pedagógico. Artigo de Jung Mo Sung
- Na paixão, a plena revelação: Jesus é o Filho de Deus