06 Outubro 2022
Novo livro provoca: no bojo do colonialismo, a modernidade forjou-se pela diferenciação entre nós e “os outros”, a civilização e a “barbárie de lá”. Essa lógica explica a aversão das elites ao voto nordestino, visto como entrave ao seu desenvolvimento.
O artigo é de Renan Porto, ensaísta e poeta, mestre em filosofia do direito pela UERJ, publicado por Outras Palavras, 05-10-2022.
Eis o artigo.
Em breve será lançado no Brasil o livro "Homo Modernus: por uma ideia global de raça" da Denise Ferreira da Silva pela editora Cobogó. Li esse livro em inglês, "Towards a Global Ideia of Race", e é uma leitura muito densa e desafiadora. Não lembro de Silva dizer em nenhum lugar algo fechado tal como “raça é x”. Sua proposta de método, a analítica da racialidade, investiga diferentes discursos sobre raça para mostrar o que se produz em torno destes discursos. A ciência aqui tem um papel de construção simbólica com força produtiva. Uma das formações que ela observa emergindo em torno do emprego das categorias empregadas para dar conta de pensar a diferença humana, tais como raça e cultura, é o mapeamento do espaço global que emerge com as expedições coloniais e a distribuição dos povos sobre este espaço.
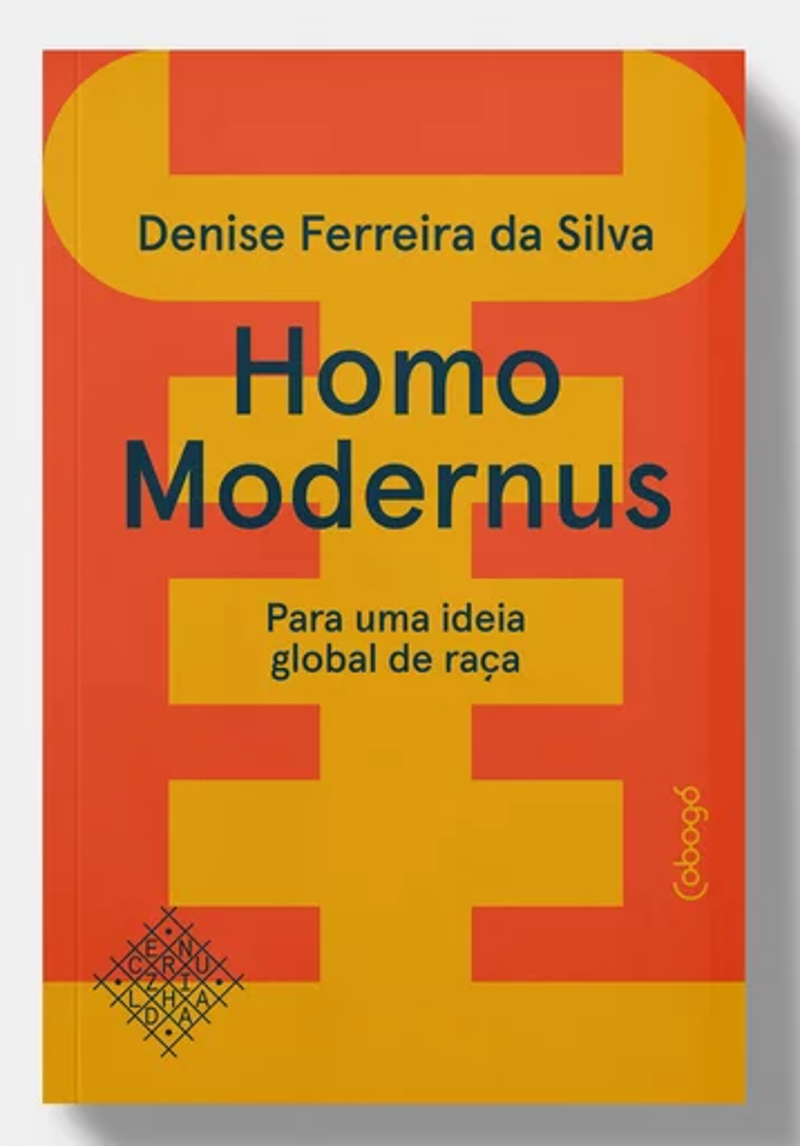
Homo Modernus: por uma ideia global de raça, de Denise Ferreira da Silva, pela editora Cobogó | Foto: divulgação
Para Silva, a globalidade é uma nova dimensão ontológica que emerge junto com a modernidade, consequência das explorações ultramar e do encontro entre povos diversos. O sujeito moderno se produz a partir de uma diferenciação de si dos seus outros que repentinamente povoam seu imaginário. A raça e a presença do outro racializado sempre estiveram implicadas na filosofia moderna desde seus primórdios, mesmo que de forma não dita, ou pior, em expressões tais como as de Hegel que se referiu aos povos africanos como povos sem história.
Silva explica que o sujeito moderno se autoproduz afastando de si todo traço de determinação exterior. O sujeito racional forja uma interioridade consciente e capaz de se autodeterminar, diferente daqueles corpos afetáveis por paixões, clima, necessidades geográficas etc. dos “outros da Europa”. Mas desde que esse sujeito abstrato tenha sempre um corpo e suas condicionantes, a exterioridade vai sempre retornar e assombrar o construto moderno. Para Silva, a dialética hegeliana marca um momento importante nesse processo quando a exterioridade é incorporada ao processo racional. Na dialética hegeliana em que a história se produz no atrito entre sujeito e objeto, a exterioridade se torna um desdobramento da própria razão se atualizando historicamente. Hegel coroa a modernidade como um mundo governado pela razão após a morte de Deus. Silva explica como isso coloca a sociedade como forma racionalizada, realização de um Eu transparente, tendo o Estado como expressão maior da racionalização. No entanto a raça continuará sempre como um fantasma que assombra esse construto de dentro, um obstáculo para sua modernização plena.
Na segunda parte do livro, Silva analisa a emergência das teorias biológicas sobre a raça nos séculos XVIII e XIX para então abordar a emergência das ciências sociais no final do século XIX. A antropologia, principalmente, toma forma a partir de um afastamento do conceito biológico de raça em direção ao conceito de cultura como seu eixo principal. Raça, cultura, nação são as categorias mobilizadas para pensar as diferenças humanas. Silva explica, porém, como o afastamento do conceito biológico de raça e a produção da cultura enquanto objeto científico ainda deixam a raça como traço naturalizado das diferenças entre os corpos. O problema da raça continua como algo ainda inexplicado mas que funciona como dado para explicar problemas como a morte negra: morreu porque era preto. Na terceira parte do livro, Silva também analisa a mobilização do conceito de raça para explicar os problemas com os sujeitos racializados na formação da sociedade americana e a raça aparece nos discursos sociológicos como um impedimento para a realização de uma sociedade moderna.
Desde que li este livro, essas questões me perturbam. A raça para Silva não é uma identidade, está longe de ser algo individualista e tem um papel produtivo na configuração do espaço social. Essa mobilização geográfica da raça organizando uma construção simbólica sobre o espaço parece acontecer agora com a distribuição dos votos nas eleições do Brasil. As categorias da diferença como a raça ou cultura se tornam vetores de distribuição espacial da política. O Nordeste se firma como objeto de desejo e ódio, tal como Mbembe explica a ambivalência espectral (presente e ausente ao mesmo tempo) do corpo racializado. Os votos do Nordeste são explicados seja pela fome condicionada por causas exteriores e geográficas que afetam os corpos incapazes de se autodeterminar diante delas, seja pela consciência de um povo forte, um construto simbólico e imaginário do que é o nordestino.
Fabiana Moraes já argumentou muito bem em texto recente como o Nordeste é construído simbolicamente enquanto um problema para a modernização plena do Brasil. Argumento que me remete a um conhecido ensaio do Paulo Arantes escrito há vinte anos, "A Fratura Brasileira do Mundo", onde ele contava a história do Brasil como sendo sempre marcada por essa modernização não realizada, sempre a um passo aquém do sonho de um país moderno. Os povos indígenas e quilombolas, por sua vez, aparecem hoje em discursos do ainda atual presidente e sua corja como como um empecilho para o desenvolvimento, a expansão agrícola modernizada sobre terras que parecem completamente virgens, inabitadas, intocadas pelo homem, um reino natural ainda por ser desbravado
A escritora caribenha Dionne Brand diz em seu livro "The Map to the Door of No Return" que o corpo negro é sempre um corpo naturalizado na cultura popular. E ela lembra: na cultura ocidental o natural é cativo da ciência, que é feita por aquele sujeito racional que Silva descreve tão bem. Esse corpo naturalizado é também o corpo do nordestino forte que resiste ao sol, a seca e a fome. A racialização do Nordeste que Moraes descreve também produz como efeito simbólico a identidade de uma cultura nordestina, quase que outra nação habitando internamente o corpo nacional brasileiro. Identidade difusa que se espalha país a dentro, tão presente em São Paulo, obstaculizando o sonho de uma nação moderna aos moldes europeus, ou seja, branco, daqueles que vão para Gramado e acordam pensando estar na Suíça.
Este sonho de nação é para muitos um longo pesadelo em que a morte bate à porta dentro do próprio estômago. O pesadelo da fome. Ou quando a morte berra de fora, com os tiros de pistoleiros contra comunidades indígenas. Além dos sonhos cancelados de centenas de milhares de mortos pela pandemia. O sonho desse Brazil com Z que debocha de quem morre e de quem tem fome é assombrado por dentro pela miríade de corpos espectrais que atrapalham a foto de cartão-postal do Brasil ideal, filho legítimo da Europa.
O dia das eleições, 2 de outubro, foi também o dia quando completaram-se 30 anos do massacre do Carandiru. 111 pessoas foram mortas num mesmo dia e num mesmo lugar por uma instituição parte do Estado brasileiro. Como Jordhanna Cavalcante e Marcos Queiroz já argumentaram, o massacre do Carandiru foi a inauguração do que viria a ser a democracia brasileira: uma forma de governo em que a morte negra faz parte da normalidade e realiza o funcionamento da norma.
Por um lado, o governo do PT nunca foi capaz de acabar com a normalidade da violência antinegros. Mas o ainda atual governo fez de tal violência um discurso público sem pudor. Nessa equação, acredito que a situação do Brasil hoje ainda é a de enfrentamento de um passado colonial que persiste na nossa configuração social. Isso é explícito na concentração fundiária, na violência contra povos indígenas para expandir a extração de recursos naturais exportados para os países do norte e na violência cotidiana contra as pessoas negras.
Ainda temos muito o que lutar para superar esse passado que não passa. E com certeza é muito mais difícil lutar quando a ameaça contra quem luta se torna uma política de Estado. Lula não é a solução dos nossos problemas justamente porque tais problemas são nossos e sem nossa mobilização coletiva e ação coordenada as soluções não virão de um messias. Já vimos o estrago que um tal messias pode causar em poucos anos.
Espero que nos próximos anos possamos estar mais distantes desse passado e reencontrar um passado diferente para nosso país. Um passado com a história de nossos povos, dos nossos bisavós que guardam como que a última memória de que temos ainda ligação com uma história muito mais longa do que a história do Brasil como Brasil.
Um passado pra sonhar.
Um futuro ancestral.
Leia mais
- 10 PMs do Massacre do Carandiru se aposentaram com salário maior que do governador
- Xadrez das eleições mais relevantes da história. Artigo de Luis Nassif
- O Massacre do Carandiru e a condenação anulada: o pior cenário em 26 anos
- Impune, massacre do Carandiru completa 25 anos
- O massacre do Carandiru continua!
- Filosofia de segurança pública é a mesma 25 anos depois do massacre do Carandiru
- País se mobiliza contra absolvição de responsáveis pelo Massacre do Carandiru
- Com propostas e aliança ampliada, Lula vencerá. Artigo de Jean Marc von der Weid
- Segundo turno: a ultradireita contra a Arca de Noé. Artigo de Paulo Nogueira Batista Jr.
- O futuro do Brasil depende dessa eleição de Lula. Entrevista especial com Roberto Andrés
- Afeto e política na pós-verdade. Artigo de Frei Betto
- Voto evangélico: 2022 não é 2018. Artigo de Alexandre Brasil Fonseca
- Eleições 2022 em debate. “As urnas confirmam que o Brasil deixa de ser um país capitalista emergente e se firma como país de capitalismo subalterno e dependente”
- Eleições 2022: Uma maioria democrática e uma direita forte e resiliente. Algumas análises
- Eleições 2022, 2º turno: A volta dos que não foram. Artigo de Marcelo Zanotti
- Eleições 2022, 2º turno: A volta dos que não foram, Parte 2 - eles voltaram. Artigo de Marcelo Zanotti
- Justiça de São Paulo anula julgamentos de PMs pelo massacre do Carandiru
- Vermelho Sol, fotossíntese da violência
- Nordeste, um quebra-cabeça feito de fome, elites e interesses
- "Todas as condições que propiciaram o Carandiru continuam vigentes"
- Relator que anulou julgamento do Carandiru ataca críticos: 'Você é uma infeliz'





