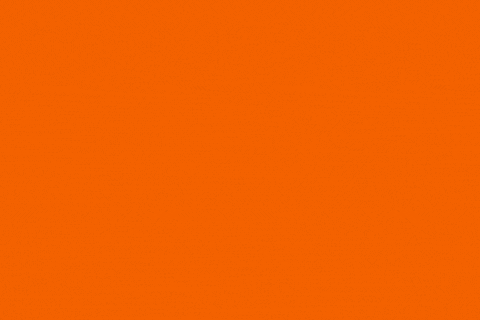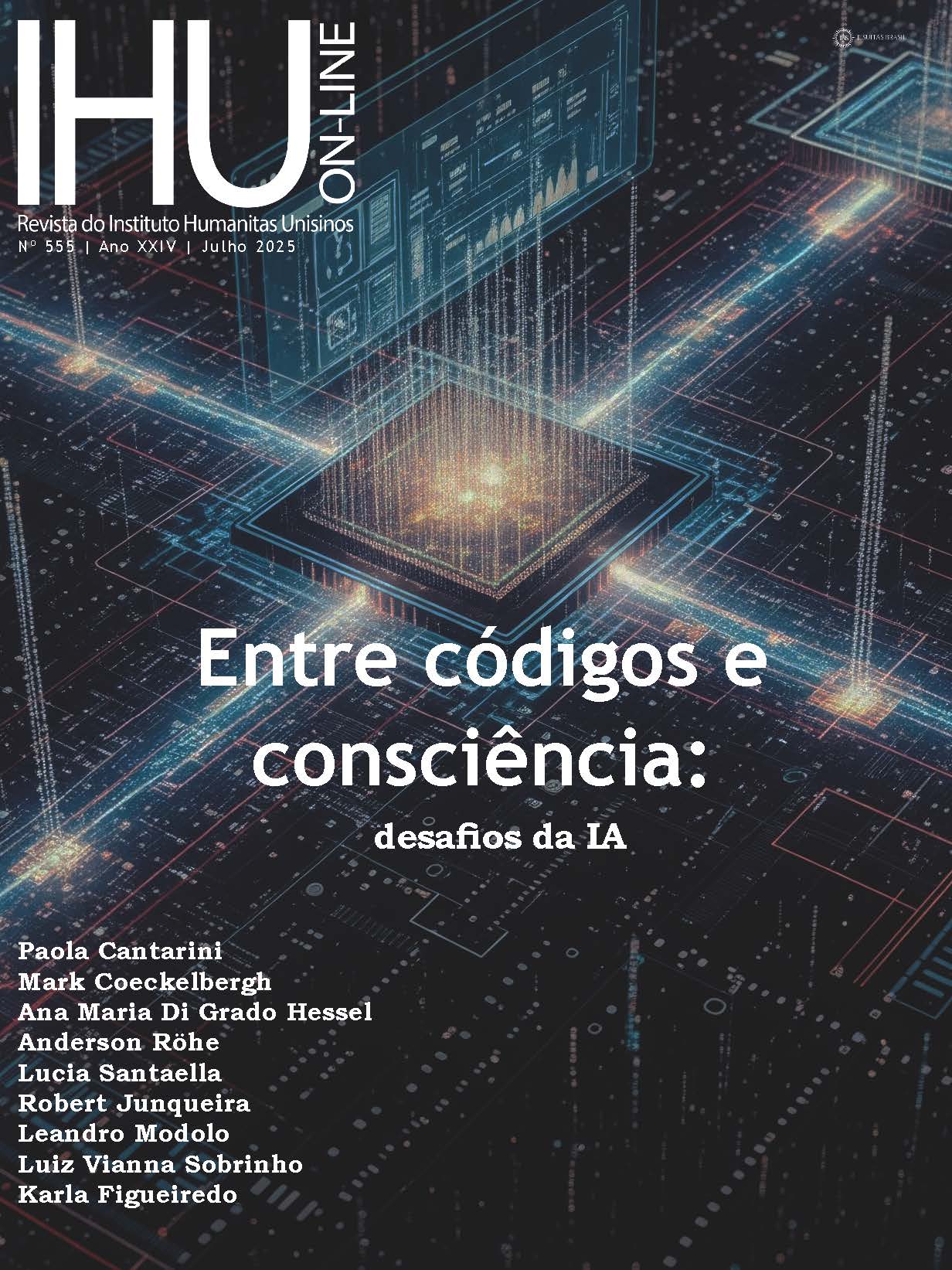25 Agosto 2020
Idelber Avelar

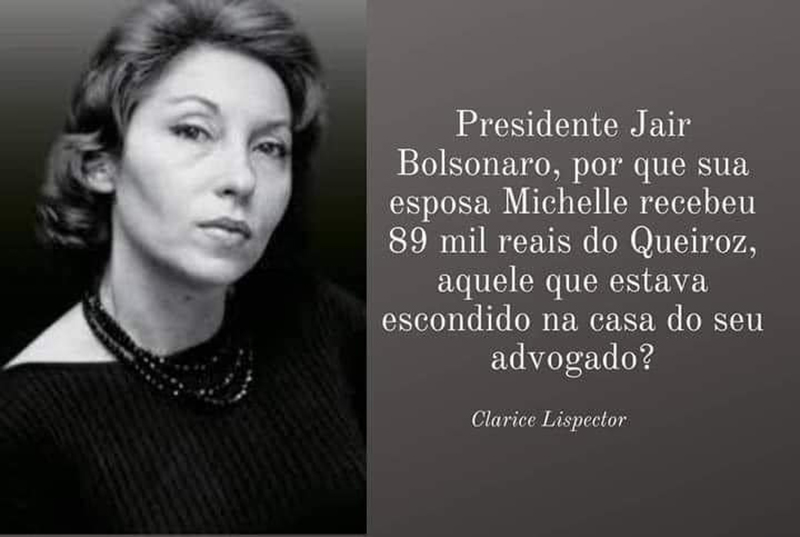
Faustino Teixeira


Como aterrar entre ruínas?
É sempre muito bom conversar com os antropólogos. Em conversa com meu filho Daniel hoje pela manhã, 22/08/2020, pude avançar um pouco mais na complexa questão relacionada ao conflito ou guerra entre os humanos e os terranos (ou terrestres). Isto no livro sobre Modos de Existência. Latour fala que essa guerra já foi perdida. A dinâmica do Antropoceno vingou.
A novidade, que Daniel me ajudou a entender, é que ambos os povos saíram perdendo: terranos e humanos. Aqueles que ressurgirão da catástrofe serão outros, talvez alguns cogumelos ou insetos capazes de enfrentar a vida em piores condições, como vem mostrando muito bem Anna Tsing. É incorreto falar em catastrofismo, pois ressurgência haverá. A questão é saber: quem?
Tsing indica que a realidade das “perturbações humanas” que acompanham a realidade do Antropoceno não abole as “ecologias habitáveis” com suas surpresas inusitadas: “Depois de um incêndio florestal, as mudas brotam nas cinzas e, com o passar do tempo, outra floresta pode crescer após a queimada”. Isso é ressurgência. Trata-se do “trabalho de muitos organismos que, negociando através de diferenças forjam assembleias de habilidades multiespécies em meio às perturbações” (Tsing).
Em seu recente livro, Onde aterrar – como se orientar politicamente no Antropoceno – Latour volta a falar em “guerra estranha”, uma guerra “ao mesmo tempo declarada e latente”. E assinala:
“Se pudermos dramatizar a situação de forma um tanto extravagante, diremos que se trata de um conflito entre os humanos modernos, que, acreditando estarem sozinhos no Holoceno, fogem para o Global ou rumam em êxodo para o Local, e os terrestres , que sabem que estão no Antropoceno e que buscam conviver com outros terrestres sob a autoridade de uma potência cuja instituição política ainda não está garantida”.
O Terrestre, diz Latour, “ainda não é uma instituição, mas é já um ator cujo papel político se mostra claramente diferente daquele atribuído à ´Natureza` dos Modernos”.
Mesmo a palavra ecologia, sublinha Latour, soa hoje meio distoante, “exceto para designar um domínio científico. Todas as questões se referem aos terrenos de vida que se constituem com ou contra outros terrestres às voltas com os mesmos dilemas”.
O que entra hoje em cena de forma avassaladora é um “Novo Regime Climático”, que traz consigo uma ameaça a todos. A situação que nos envolve é “incerta”, “porque o Terrestre é ao mesmo tempo vazio e povoado. São inúmeras as iniciativas de retorno ao solo, tema que encontramos em toda parte: nas exposições de arte, nos periódicos científicos, nas discussões sobre os bens comuns, na reocupação de áreas rurais remotas.”
Diz Latour, “ainda hoje, é o Global que reluz, que liberta, que entusiasma, que permite que tanta coisa seja ignorada, que emancipa, que dá a impressão de juventude eterna. Mas ele simplesmente não existe. Por seu turno, é o Local que tranquiliza, que acalma, que oferece uma identidade. Mas ele tampouco existe”.
E ele vislumbra uma possível resposta, mediante dois movimentos complementares: “vincular-se a um solo, por um lado; mundializar-se, por outro”
E complementa: “O atrator Terrestre – que é claramente distinto da ´natureza` e que não é de forma alguma o planeta, mas apenas a fina película das Zonas Críticas (...). Um solo que nada tem a ver com o Local e um mundo que não se parece nem com a globalizaçãoo-menos nem com a visão planetária”.
Latour faz uma distinção entre globalização-mais, “que consiste no registro dos modos de existência que impedem que nos limites a uma única localidade e que nos mantenhamos no interior de qualquer fronteira que seja”; e uma globalização-menos, que está “associada à deriva do projeto de modernização”.
O autor sublinha que “tanto o Global quanto o Local oferecem péssimas vias de acesso ao Terrestre, o que explica a atual desesperança: o que fazer com os problemas que são, ao mesmo tempo, tão grandes e tão pequenos? É de fato desencorajador. Então o que fazer? Antes de mais nada, descrever”.
Trata-se de descrever os “terrenos de vida que se tornaram invisíveis”. Somos habitados por um “déficit de representação”.
E ainda: “Existir como povo e ser capaz de descrever seus territórios de vida consiste numa única e mesma coisa; e foi exatamente disso que a globalização-menos nos privou. É por falta de território que um povo acaba de faltar”.
Os “povos que faltam” são aqueles que se “sentem à deriva e perdidos devido à ausência de uma clara representação de si mesmos e de seus interesses”.
Recorrendo a um termo caro a Latour, estamos diante de uma arriscada negociação diplomática “junto àqueles com quem desejamos conviver”. Ocorre que a resposta encontrada por Latour é complicada e muito eurocêntrica. Ele identifica essa possibilidade de resposta na Europa, como o canal possível de passagem do moderno para o contemporâneo. Daí a contundente crítica feita ao auto por Alyne Costa, no posfácio de livro.
Latour não nega a possibilidade de gestos que sejam “efetivos interruptores da globalização”. Ele nomeia também como “gestos barreiras”. Fala também em “rebeldes contra a extinção”. E justifica:
“O que o vírus consegue com a humildade circulação boca a boca de perdigotos – a suspensão da economia mundial, nós começamos a poder imaginar que nossos pequenos e insignificantes gestos, acoplados uns aos outros, conseguirão: suspender o sistema produtivo”.
Ele não chama isso de “revolução” mas de “dissolução, pixel a pixel”, com base na reflexão de Pierre Charbonnier.
Roberto Romano Da Silva
Entrevista com Roberto Romano. Jornal do Commercio de Recife, sobre aumento de impostos sobre livros e seu significado mais amplo. Domingo 23 de agosto de 2020. Segue o texto para não assinantes.
Por Fábio Lucas
O livro está perdendo valor no imaginário cultural?
Em tempos de escritas rápidas e de leituras idem o livro se transforma em objeto ignorado mesmo entre pessoas habitualmente consideradas intelectuais. O livro supõe um tempo lento de escrita, impressão, difusão, leitura. Mesmo com os avanços técnicos trazidos pelo computador, lançar um livro é menos ágil do que ler e redigir algo nas redes sociais. O jargão dos usuários daqueles serviços é demais eloquente: um escrito com mais de 3 mil caracteres é “textão” enfadonho. Não é de hoje o problema, nem é exclusivo da Internet.
Onde está o problema?
Hans Robert Jauss e outros que elaboraram uma estética da recepção indicam: livros de longo fôlego não carreiam o entusiasmo do leitor domesticado pela cronologia da TV, rádio, etc. Poemas e compêndios que reúnem muitas páginas são mencionados mas pouco lidos. O Paraíso Perdido de Milton, os Lusíadas, a Divina Comédia, integram a lista. A quantidade cansa. Em cada linha é preciso recolher informações que só a ordem erudita fornece. Se no caso de livros clássicos tal óbice existe, imaginemos a cultura do instantâneo que rege o mundo digital. Nela, alguém escreve algo em Pequim e na pequena São Bento do Sapucaí chega de imediato a mensagem enviada. O livro exige tempo, paciência e memória. Nas ciências ele supõe saberes multifacetados, das matemáticas à geografia, da física às biologias. Não se lê um volume teórico ou mesmo um romance com a rapidez que marca o Whatsapp.
E a troca de mensagens instantâneas, entre pontos distantes do planeta, é uma das principais imagens da cultural global.
A cultura atual, indica Paul Virilio, é regida pela instantaneidade. Mas o livro supõe escalas sincrônicas e diacrônicas diversas às da rapidez. Manter a produção de livros desafia o tempo e o espaço. Não por acaso na França, onde o livro é signo de saber, livrarias e editoras importantes faliram. No lugar das Presses Universitaires de France hoje existe uma loja de roupas. Em toda grande mudança tecnológica planetária (a partir de Gutenberg no caso do livro) existe um intervalo entre o avanço dos instrumentos e seu uso. Com a prensa vem a figura do pedante: ele compra o maior número de livros, mas nada aproveita por falta de sólidos saberes. O pedante consome mas não digere o conteúdo dos livros.
Como o viajante do mundo virtual que passeia por vários temas e telas, sem se aprofundar?
A internet abre recursos excepcionais. Cito o Projeto Perseus. Aquele site recolhe a herança filosófica grega e latina. Cada palavra dos seus textos, de consulta gratuita, possui um link que envia para dicionários, gramáticas, comentadores. Vinte anos atrás um pesquisador da filosofia grega saia do Brasil para compulsar aqueles documentos. Hoje basta entrar no site e acessar os textos. Mas existe um problema: para saber o que se deseja nos escritos é preciso o conhecimento prévio da língua grega e latina, o domínio básico da literatura filosófica, literária, histórica, política, etc. Para bem usufruir tal página os prolegômenos devem ser dados no ensino escolar. Sem tais cautelas um instrumento útil se transforma em fonte de formas pedantes e dogmáticas, contrárias ao pensamento rigoroso.
Como isso pode ser verificado na mídia impressa, ou que já foi impressa, e se transfere para a mídia digital?
Os jornais e revistas de hoje perdem espaço para ganhar tempo. Um artigo que há trinta anos atrás seria publicado em páginas de opinião de periódicos importantes poderia conter quatro ou cinco laudas. Hoje, o máximo atribuído a um texto assim não ultrapassa os 5 mil caracteres com espaço. Não se trata, no entanto, do preceito sábio do brevilóquio que condensa muitos conhecimentos em poucas frases. Um artigo limitado em caracteres não chega (salvo raríssimas exceções) à maestria do aforismo ou do ensaio. Ele recolhe fragmentos que deixam os leitores com sua fome de conhecimento e controle. A escrita breve serve, assim, mais para adiantar slogans sem provas do que para abrir campo para o diálogo entre autor e leitor.
O resultado é uma perda para a leitura?
A cultura da velocidade apenas começa a exibir alguns de seus aspectos. Se ela seguirá para a superficialidade do pensamento em termos absolutos é impossível prever. Desde o início do Estado moderno, por volta dos séculos 14 e 15, o livro ajudou a definir instituições políticas, sociais, religiosas. O século 17, era áurea da razão de Estado, criou bibliotecas relevantes unidas às universidades e à Corte real. Richelieu, Mazarino, os reis ingleses e demais governantes europeus valorizaram tais instituições. Não por acaso um atento observador do maquiavelismo e da razão de Estado – além de ser o primeiro a escrever sobre os golpes de Estado – Gabriel Naudé, era bibliotecário de poderosos e escreveu inclusive um tratado nuclear sobre política e livros (Advis pour dresser une bibliothèque, 1627). No século 17, Francis Bacon, pensador e político notável (destituído por corrupção) cunhou a frase estratégica: knowledge and power meet in one.
Que se popularizou como “saber é poder”. A relação enfraquece com a aceleração trazida pela tecnologia da comunicação?
O elo entre saber e poder marca a cultura política moderna. Mas não é possível olvidar que o incentivo à ciência, pelos arquitetos do Estado que se firmava, apresenta um lado sinistro, a censura. Os governos absolutistas ao mesmo tempo impulsionaram os livros e censuraram sua produção e consumo. Um texto essencial para se entender a dialética do apoio aos conhecimentos e a censura foi publicado por Laurie Catteeuw. O título é claro: Censures et raison d’état, une histoire de la modernité politique, XVIe-XVIIe siècle, 2013.
No século 18, editoras e universidades se espraiam pela Europa, América do Norte, América do Sul. Os livros servem como pedras angulares do Estado e da sociedade moderna em todos os sentidos, do econômico ao político. As tentativas dos povos colonizados para atingir independência face às metrópoles passam pelas universidades e bibliotecas. É assim que se afirmaram no século 18 países como os EUA, cuja base encontra-se nos campi e nas impressoras de livros.
No Brasil, embora insurretos tenham sido vencidos e reprimidos – como em Ouro Preto – os cidadãos liam livros europeus e norte americanos. A Encyclopédie de Diderot tinha presença marcada. O livro de Frieiro, O diabo na Livraria do Cônego, muito nos informa sobre o elo entre os livros e as tentativas políticas de tornar o Brasil um país livre e cultivado.
Cobrar tributos de livros é uma forma de censura?
A taxação de livros, mais ainda do que o habitual, é signo de uma ruptura na base da sociedade e do Estado. Livros, hoje, servem ainda para os pesquisadores mais rigorosos e para o entretenimento de parcas elites. A maior publicação deles ruma para autoajuda, biografias, romances semipornográficos. A lista dos mais vendidos não mente: há uma crise na cultura do livro, crise que ruma para o declínio ou desaparecimento. No mesmo lance o Estado e a sociedade parecem abrir mão dos saberes exigentes, lentos e tediosos das bibliotecas e laboratórios. A digitalização de volumes, incluindo escritos antigos e recentes, faz da Biblioteca Nacional da França e de suas congêneres apenas uma base preliminar de acúmulo textual. Milhões de leitores e autores seguem para o horizonte eletrônico.
A crise na cultura do livro demonstra, então, uma mudança mais profunda?
O livro físico ainda resiste em sociedades democráticas e cultivadas. Mas a sua relevância na manutenção da ordem jurídica em plano público é bem menos considerável do que a que vigeu do século XVI ao XX. De certo modo o governo brasileiro, ao aumentar a carga tributária das editoras e dos compradores, explicita o rumo que está seguindo há décadas: a informática é a nova ossatura da ordem estatal e societária. O Estado busca independer da cultura que lhe deu nascimento no final da Idade Média. Não se pode descartar, de outro lado, que devido às formas reacionárias do governo atual brasileiro, estejamos diante de uma última investida da censura absolutista que marca a nossa miserável razão de Estado. Aqui a autoridade depende de gurus misólogos que ordenam políticas públicas, dos ataques sistemáticos aos campi e a tudo que implica pesquisa paciente e lenta.
Desprezar a cultura do livro pode ser um risco para o conhecimento acumulado pela ciência?
Na pandemia atual os dirigentes políticos exibem todo seu desprezo pela cultura científica, sobretudo a médica e a que se dedica ao meio ambiente. Como o mais importante esteio dos governos reside na internet e nas redes sociais, a censura aos livros na forma de impostos escorchantes não é tão estratégica quanto o modo de dominar as informações rápidas que definem o comportamento de milhões ao mesmo tempo e reduzem o espaço a um contínuo indiferenciado. Os instrumentos para edificar o novo poder público e a nova sociedade servem às maravilhas para a propaganda política.
O livro cumpriu em parte aquele papel, mas hoje sua importância diminui ao máximo. Aumentar impostos sobre a impressão e a venda de livros é e não é censura, mas consiste em forma ainda selvagem de fazer política retrógrada com novíssimos recursos técnicos. Indo mais além, o sistema das redes sociais de hoje realizaria o delírio de Goebbels. Com recursos moderníssimos para sua época aquele doutor em filosofia edificou um Estado policial que de conservador tinha pouco e muito de inimigo de todo progresso científico que não estivesse sob controle do governo, o mais regressivo em todos os planos axiológicos, da família (os famosos três K para as mulheres, Kinder, Küche, Kirche: crianças, cozinha, igreja) às empresas (o retorno ao trabalho servil e mesmo escravo).
A tecnologia se volta contra a cultura científica, nas mãos da política que nega os livros e a própria essência do Estado de Direito?
No mundo atual as redes da internet servem perfeitamente para governantes regressivos e mesmo reacionários, cuja mensagem é de fanatismo contra a ciência e avesso a todos os pensamentos liberais advindos do século 17 inglês. Os casos de Trump e de Bolsonaro são paradigmáticos. O livro deixou de ser, desde os inícios do século XX, um dos alicerces do Estado democrático de direito. Ele cedeu o lugar para o rádio (Carl Schmitt, o grande teórico do nazismo tinha extremo zelo pelo controle governamental do rádio), a TV, a indústria dos filmes.
Não por acaso uma das guerras entre o nazismo e os países que ainda ostentavam regimes democráticos e liberais, foi pela hegemonia da indústria cinematográfica. A história de Holywood, em corrida contra a UFA (Universum Film Aktien Gesellschaft), tem muito a informar sobre a marcha retrógrada contra a cultura do livro. E as fogueiras onde volumes aos milhares foram queimados em praça pública são o ícone de tais posturas delirantes do espírito. Hoje diríamos que as fogueiras são obsoletas. Os livros desaparecem nos abismos da internet e no seu lugar as redes sociais ocupam o espaço de sustentação política de governantes tirânicos, antíteses de qualquer liberalismo.
Como a liberdade de leitura se insere na história do liberalismo?
O liberalismo clássico coincide com a chamada Revolução Puritana do século 17 inglês. Nela, ao lado de uma forte mística religiosa circularam saberes da história à física, desta aos poemas e panfletos que defendiam a liberdade de imprensa. O texto de Milton, Areopagítica é um hino à liberdade política, de pensamento, escrita. Vencidos pela monarquia, os puritanos se dirigiram à colônia norte americana. Ali edificaram universidades, escolas, editoras. Dessa onda revolucionária brotaram os Estados Unidos e, na Inglaterra, a filosofia de John Locke.
Há um livro clássico sobre o tema, escrito por P. Miller: The New England Mind. Ali temos as bases do liberalismo efetivo que une reivindicação das liberdades, defesa dos direitos individuais e conhecimentos.
Benjamin Franklin, cientista e político, não foi uma exceção na democracia norte americana. Não por acaso os momentos mais sombrios daquela república situam-se após o nazismo (relevante em território norte americano ainda agora) na campanha contra as artes, as ciências, os direitos civis, conduzida pelo senador Joseph McCarthy em parceria com John Edgar Hoover. A guerra contra os saberes movida pela polícia, mais a censura, toldaram a natureza do regime político naquele país. Hoje renasce a mesma raiva contra os conhecimentos, na aliança de movimentos reacionários e religiosos fundamentalistas sob Trump.
Há um choque entre o liberalismo econômico e a filosofia liberal, neste ponto?
O que é chamado na imprensa e na universidade como neoliberalismo tem pouco a ver com os liberais. Estes não seguiam planilhas de investimentos para aplicar recursos públicos na educação, ciências e artes. Foi assim que eles edificaram Harvard, Yale e outros pontos luminosos da cultura norte americana. Quando digo cabeça de planilha, recordo um nome definido como “liberal” no Brasil, Paulo Guedes. Em célebre reunião ministerial o ministro, dedo em riste, enfrentou generais do governo e negou os princípios de uma economia como, por exemplo, a praticada por Celso Furtado. Além disso, ele afirmou, contente, ter lido “oito livros sobre cada caso de saída de crises na Europa e no mundo”. Em qualquer universidade que se preze, proclamar tal leitura liliputiana levaria à reprovação em exames de mestrado. Entre liberais como Milton, Locke, Benjamin Franklin e supostos liberais como Paulo Guedes, a distância vai do tratado ao panfleto. E de panfletários o planeta está cheio.
A democracia deveria render um tributo aos livros, e não, cobrar imposto por eles.
A cultura democrática moderna foi edificada a partir dos livros. Não por coincidência, o neoliberalismo imposto por Margaret Thatcher a Cambridge e Oxford, trouxe consigo a tese da “produtividade” acadêmica, o que reduziu consideravelmente o tempo dos pesquisadores e docentes em seu labor diário. Como o correto é publicar o mais possível no menor prazo, o rigor lógico, empírico, ético diminuiu no campo acadêmico. Aumentaram os plágios e as subtrações de trabalhos alheios. A ordem de publicar ou perecer não permite “perder tempo” com maiores consultas às fontes, revisões de trabalhos, alongamentos analíticos. Boa parte da avaliação do esforço universitário descarta o erro, direito básico de toda ciência digna do nome. É bom que se recorde o significado latino de Error: trata-se da pessoa que comete um desvio de caminho e sentido. A ciência não é nutrida apenas ou principalmente de acertos, mas de tentativas, falhas, buscas, incertezas. Sob o neoliberalismo acadêmico não é permitido errar, caso contrário os programas científicos, técnicos, humanísticos são sancionados negativamente com perda de recursos e prestígio.
Como o neoliberalismo acadêmico chegou ao Brasil?
No Brasil, a CAPES, o CNPq e agências estaduais de auxílio à pesquisa entraram em tal lógica. O tempo foi encurtado de modo drástico na vida dos laboratórios, bibliotecas, salas de aula. Não admira que as fontes das informações e reflexões acadêmicas estejam migrando do livro impresso para a Internet, salientada no topo sites como a Wikipédia, cuja qualidade de informação é oscilatória: textos rigorosos coabitam com outros nem tanto. Ganha-se tempo, mas perde-se a força da imaginação, a capacidade inventiva, o incentivo da pesquisa. Esta última vem do termo grego ( ζήτησις, zetesis) que significa buscar com afinco um objeto ou pensamento. O contrário da zetesis é o dogmatismo que nega a necessidade da busca, visto que existem mestres de pensamento que fornecem verdades sem que os discípulos necessitem investigar de modo autônomo.
Como se a busca do conhecimento perdesse o sentido em presença de um mestre autoproclamado imune ao erro, fazendo de toda palavra um dogma.
É a cultura do Ipse dixit, na qual pontificam os Olavo de Carvalho e afins. Ou seja, o livro não serve mais, de modo amplo e profundo, para moldar mentes inquisitivas mesmo nos campi. A “produtividade” acadêmica passa a ser muito próxima à do antigo pedantismo: muitos dados, fontes, informes sem digestão lógica ou teste empírico. Exagero? Uma análise fria dos “produtos” trazidos pelas avaliações ao modelo neoliberal assusta os que ainda imaginam existir lugar para o exercício do amor à sabedoria.
O que diriam os iluministas sobre o assunto?
Os integrantes das Luzes tinham plena consciência do valor trazido pelos livros. Mas alertados pelos humanistas do Renascimento, mantinham reservas contra o consumo de publicações sem o conhecimento adequado. No verbete “Bibliomania” da Enciclopédia diderotiana podemos ler: “Tantos medíocres e tolos escreveram, que podemos olhar uma grande coleção de livros em qualquer gênero como uma coleta de relatos para servir à história da cegueira e loucura dos homens; poder-se-ia colocar acima de todas as bibliotecas a seguinte inscrição filosófica: ‘Hospícios do espírito humano’”. O amor dos livros sem sabedoria “é uma das mais ridículas paixões. Seria como a doideira de um homem que ajuntaria cinco ou seis diamantes sob um montão de pedregulhos”.
De modo geral, termina o verbete, “a bibliomania, salvo poucas exceções, é como a paixão de acumular quadros, curiosidades, casas; os possuídos por ela nada gozam. Assim um filósofo, ao entrar numa biblioteca, poderia dizer de quase todos os livros que ali estão o que um filósofo dizia outrora ao entrar numa casa ornada em demasia, quam multis non indigeo, quantas coisas que de nada me servem!”. Numa obra coletiva cujo alvo era levar saberes de muitas espécies à humanidade e que reuniu páginas aos milhares, o juízo é bem realista.
Faltam iluministas na nossa história?
Como os Estados Unidos da América, que não apenas liam, mas trabalhavam com os discípulos de Rousseau e Diderot na Revolução Francesa, o Brasil teve seus iluministas do século 18 ao 20. Muitos se esforçaram para trazer às massas populares o saber científico e humanístico. Mas eles sempre precisaram enfrentar a censura do Estado e da Igreja Católica, a guerra contra o saber que acompanha a beligerância contra o republicanismo, a democracia, a liberdade de pensamento.
Um ponto ilustra a coisa. No império brasileiro autores como Rousseau e seus pares eram censurados. O imperador tinha na sua biblioteca particular exemplares daqueles pensadores. Mas eles estavam ausentes das bibliotecas públicas, de onde foram banidos após a Inconfidência mineira.
Os livros no Brasil contribuem para um país menos obscuro?
Tivemos editores corajosos e lúcidos, no Império e na República. Durante as duas ditaduras que marcaram o século 20, os censores trabalharam dia e noite nas redações de jornal e nas empresas de livros.
Ênio da Silveira (Civilização Brasileira), em companhia de editoras como a Zahar e outras lutaram para que os conhecimentos variados chegassem às supostas elites e à população. Muitos levaram sua empreitada sob o signo da chantagem econômica para que suas linhas de publicação fossem transformadas em ensino de subserviência a governos. J
acó Guinsburg (Editora Perspectiva) e outros, incluindo iniciativas universitárias, conduziram suas pequenas empresas à publicação de trabalhos essenciais para cultura mundial e brasileira. Mas as dificuldades já passavam pelos impostos escorchantes, a censura velada, ausência de ética dos livreiros e demais distribuidores.
Por outro lado, grandes livrarias faliram, mostrando o quanto as próprias elites universitárias abandonavam os livros.
O caso da Livraria Livro Sete do Recife é particularmente doloroso. Aquela casa trazia para o Brasil uma vasta literatura humanística e científica, fornecendo acesso aos textos para leitores do país inteiro, de Norte a Sul. Ela foi fechada em 1998, no alvorecer da Internet.
O que a proposta de taxação de livros de agora diz a respeito da falta de apreço ao conhecimento e à liberdade do saber no Brasil?
Que as Luzes tiveram pouca penetração no país, salvo quando os dirigentes políticos percebiam a importância dos saberes para a edificação de uma sociedade republicana e democrática. A história política de nossa terra não é cheia de luminosidade. As sombras (como no Império e nas duas ditaduras do século 20) dominam a maior parte do tempo. Sob Bolsonaro nada é diferente, apenas pior.
Ruben Berta


Eu me lembro como se fosse hoje daquele julho de 2013. Ainda estava no Globo e fui deslocado num plantão para cobrir o casamento da neta do "Rei do Ônibus" do RJ, Jacob Barata, a dona "Baratinha". Quando terminava a pergunta "seu Jacó, qto custou a festa?", tomei o tranco no peito.
Era um período em que mais do que nunca as pessoas estavam revoltadas com um transporte público que não funcionava e empresários que ostentavam riqueza. A pergunta se fazia necessária.
De lá pra cá, os rumos mudaram muito pra mim. Uma primeira demissão em 2017 até fazia parte do roteiro. Uma bizarra segunda em 2018, com o aval de um prêmio Pulitzer, poderia significar que enfim estava na hora de desistir.
Em março de 2019, decidi juntar os cacos e começar tudo de novo do zero simplesmente pq o amor pela minha profissão faz o meu coração bater mais forte. Já faz um ano e meio dessa luta de fazer o blog se tornar realidade.
Enfim, é só pra dizer que nem sei o que será do amanhã, mas, apesar de toda porrada, de toda pressão, não é nada fácil derrubar um jornalista que ama aquilo que faz.
Sigamos sempre com #RespondeBolsonaro , #RespondeWitzel, #RespondeCrivella e tudo mais que for necessário.