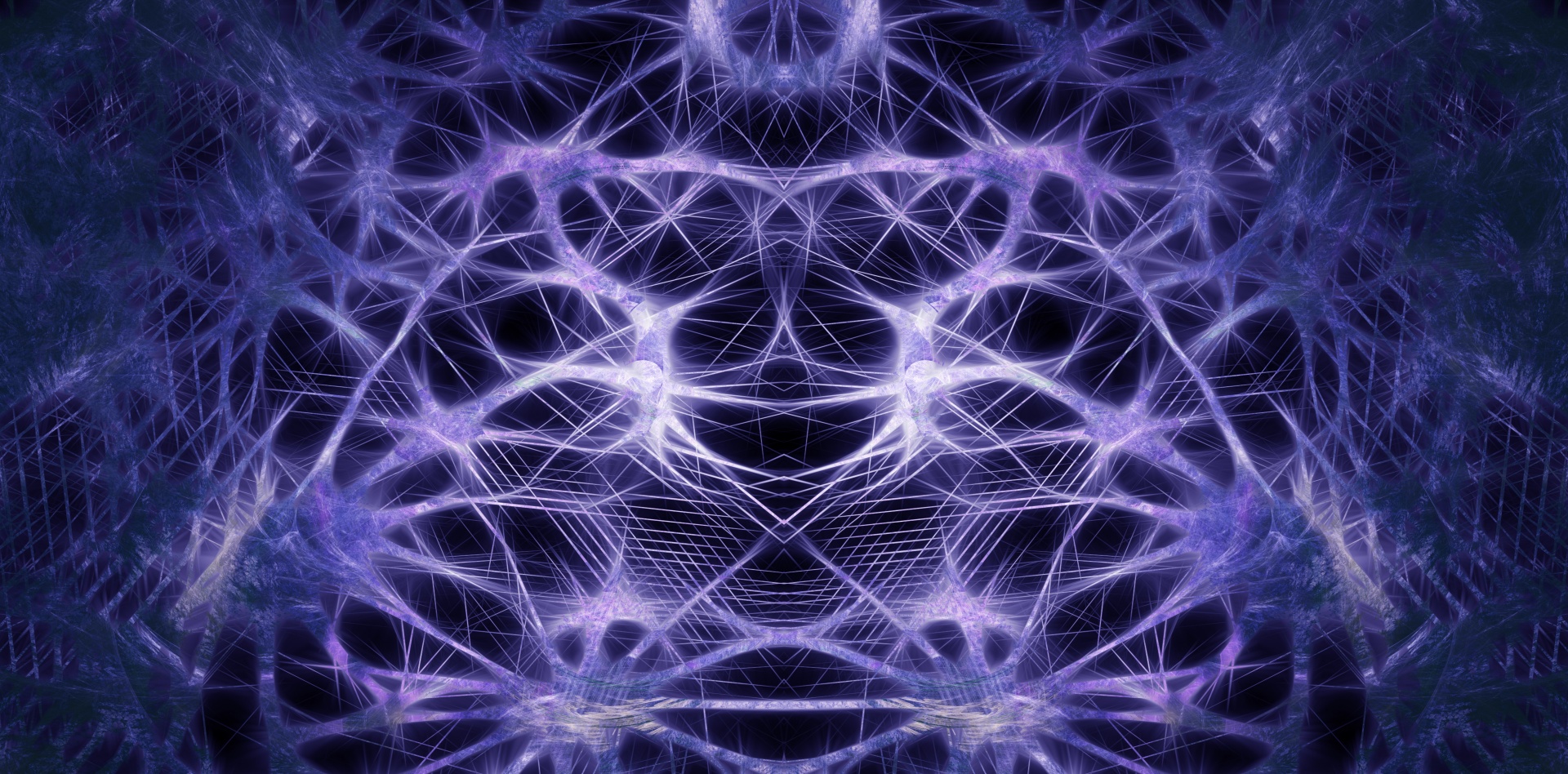24 Novembro 2018
Como a internet, em deriva individualista, ameaça criar um mundo em que afetos, laços de compromisso e polĂtica dissolvem-se em consumo e narcisismo.Â
A entrevista Ă©Â publicada por RT NotĂcias e reproduzida por Outras Palavras, 22-11-2018. A tradução Ă© de Ricardo Cavalcanti-Schiel.
Seu discurso, nesse sentido, exerce uma espécie de contrapeso, diante do otimismo generalizado que até hå pouco vigorava com relação ao mundo digital e às esperanças, provavelmente excessivas, que a sociedade contemporùnea depositava nas novas e fulgurantes tecnologias de comunicação.
CĂ©sar Rendueles, na sua obra e tambĂ©m nesta entrevista, aponta para a fragilidade dos laços humanos por trĂĄs das frenĂ©ticas redes sociais e suas multidĂ”es de followers (âseguidoresâ), lamentando, ao mesmo tempo, a enorme quantidade de vidas frustradas e empobrecidas no ambiente consumista e profundamente individualista que caracteriza o capitalismo neoliberal.
Eis a entrevista.
O que vocĂȘ chama de Utopia Digital? EstarĂamos confiando demais na possibilidade da tecnologia digital resolver nossos problemas?
AtribuĂmos hoje Ă tecnologia uma capacidade desmesurada para solucionar problemas sociais, polĂticos e atĂ© ecolĂłgicos de todo tipo. Ă incrĂvel! Por exemplo, em praticamente todos os debates sobre a crise ambiental sempre aparece alguĂ©m dizendo que a geoengenharia ou a nanotecnologia vĂŁo solucionar a crise energĂ©tica. E Ă© assim com tudo: começa-se acreditando que a crise de legitimidade polĂtica vai se resolver com a participação digital; a crise da educação, com mais geringonças tecnolĂłgicas nas salas de aula⊠à alucinante, porque, alĂ©m de tudo, isso estĂĄ introjetado tanto na esquerda quanto na direita.
Parece-me que a confiança no digital tem a ver com a ilusĂŁo de que essa tecnologia nos exime dos processos deliberativos, nos livra da necessidade de buscar acordo a partir de posiçÔes muito diferentes e em conflito, por meio de algo como uma coordenação espontĂąnea e consensual que nĂŁo passa pela deliberação. Nesse sentido, me parece que tal concepção da tecnologia Ă© herdeira da forma como o mercado Ă© concebido a partir da tradição liberal: a ele se atribuĂa a capacidade de gerar coordenação social sem recorrer a mecanismos deliberativos, descartando o conflito polĂtico.
Ă claro que hoje, depois de 2008, ninguĂ©m mais acredita muito no mercado. NinguĂ©m acredita que ele tenha essa capacidade para resolver os conflitos polĂticos: ao invĂ©s disso, os incrementa, como sempre defenderam os marxistas. Assim, trasladamos do mercado para a tecnologia essa confiança de que surja algum tipo de ordem emergente e espontĂąnea, que nĂŁo passe pelos processos deliberativos democrĂĄticos.
Em certa ocasiĂŁo vocĂȘ propĂŽs que as redes sociais tambĂ©m cumpririam uma função semelhante Ă dos antidepressivosâŠ
A era das redes sociais Ă© tambĂ©m a era da fragilização social. Esse Ă© um fato empĂrico. Vivemos em sociedades muito individualizadas, com vĂnculos sociais muito dĂ©beis, e vĂnculos organizativos tambĂ©m muito dĂ©beis. Ă nesse contexto que as redes sociais adquiriram tanto protagonismo.
AĂ se estabelece um tipo de relação que pode atĂ© ser muito abundante, com milhares de followers e âamigosâ, mas que Ă© tambĂ©m bastante superficial e frĂĄgil, sobretudo porque Ă© um tipo de relação reversĂvel pelo capricho, que nĂŁo estĂĄ baseada no compromisso, mas na preferĂȘncia: se me canso de seguir alguĂ©m ou passo a nĂŁo gostar que me siga, simplesmente o deixo de seguir ou o bloqueio. Os vĂnculos sociais efetivos nĂŁo funcionam assim. NĂŁo abrimos mĂŁo dos nossos amigos porque tenham se tornado chatos em alguma ocasiĂŁo; nĂŁo abrimos mĂŁo das organizaçÔes polĂticas ou sindicais Ă s quais pertencemos porque nĂŁo estamos dispostos a comparecer a uma assembleia ou a uma manifestaçãoâŠ
Ao mesmo tempo, as relaçÔes digitais, ainda que sejam superficiais e frĂĄgeis, nos proporcionam uma certa sensação de conexĂŁo, e por isso cheguei a comparĂĄ-las com o Prozac. NinguĂ©m confundiria a sensação que um antidepressivo produz com uma vida plena ou com a autorrealização pessoal, ninguĂ©m seria tĂŁo idiota! E, no entanto, o que a ideologia digital conseguiu foi fazer-nos confundir a vida virtual com uma vida nĂŁo apenas plena mas tambĂ©m superior Ă quela que tĂnhamos no mundo analĂłgico.
Como isso afetaria a polĂtica? As redes sociais mudaram a maneira de fazer polĂtica?
Por um lado, eu não creio que as tecnologias digitais sejam realmente tão importantes, e, por outro, creio que hå muito mais continuidade entre o mundo analógico e o digital do que se supÔe. Vejo como bastante questionåvel esse imaginårio de ruptura sistemåtica que cerca o mundo da tecnologia digital.
Nesse sentido, me parece que o que as redes sociais e a tecnologia digital fizeram foi acelerar processos que jĂĄ estavam em curso. A democracia de auditĂłrio, por exemplo, Ă© um fenĂŽmeno anterior ao surgimento das redes sociais, e tem a ver, por uma parte, com os processos de despolitização associados ao contexto neoliberal e, por outra, com o uso, nesse contexto, dos meios de comunicação tradicionais, como a televisĂŁo, marcado por um progressivo desinteresse da cidadania frente Ă polĂtica. AĂ nasceu a democracia de auditĂłrio. Ao aterrissarem sobre esse modelo, o que as redes sociais fizeram foi intensificĂĄ-lo.
Pode-se entender melhor o que as redes sociais operaram se as vemos como televisores pequenininhos dentro do nosso celular, e não como um paradigma completamente novo. Fala-se muito sobre como Donald Trump utiliza as redes sociais, mas frequentemente se esquece que ele mesmo se tornou famoso com um reality show de televisão. O uso que Trump faz das redes sociais se parece muito mais a estratégias tradicionais de propaganda de massa que a um tipo novo de estratégia reticular digital supersofisticada. à a propaganda de sempre, massiva e baseada diretamente na manipulação. Por isso, insisto que hå muito mais continuidade do que parece entre o passado analógico e o presente digital.
HĂĄ quem observe que o funcionamento mesmo das redes e dos sites de busca faz com que o usuĂĄrio acabe em uma bolha, tendo acesso a conteĂșdos previamente selecionados conforme suas preferĂȘncias, por meio de um filtro pessoalizado definido pelos servidores. Isso nĂŁo faz com que estejamos mais isolados que conectados? E tambĂ©m nĂŁo afeta a polĂtica, no sentido mais clĂĄssico e amplo do termo?
Esse mundo Ă© curioso porque nele ocorrem duas dinĂąmicas contrapostas. Ă verdade que a quantidade de informação e de opiniĂ”es diversas Ă© infinitamente maior do que no mundo analĂłgico, mas nĂłs somos seres limitados e com uma capacidade limitada de processamento â o que geralmente esquecemos. A oferta estĂĄ aĂ, mas nĂłs somos seres neolĂticos, de capacidade limitada. EntĂŁo, relacionamo-nos com pacotes limitados de informação, mas acreditamos que eles procedem de uma esfera pĂșblica infinita, onde todas as opçÔes estĂŁo disponĂveis, e que escolhemos com inteira neutralidade.
O efeito disso Ă© bastante perverso, porque nĂŁo apenas opera aĂ esse filtro de bolha (que seguramente jĂĄ existia antes, quando se escolhiam os jornais e canais mais afins para se informar), mas que agora traz algo mais: a ideia de que a informação procede da mais absoluta livre escolha e de um crivo crĂtico isento. Isso Ă© o mais caracterĂstico desses tempos: nĂŁo tanto que haja uma tendenciosidade pronunciada nos meios de comunicação â isso permanece mais ou menos como sempre â, mas que agora nĂłs nos achamos agentes crĂticos supersofisticados. E isso tem um efeito pernicioso.
VocĂȘ comentou certa vez que quando trabalhava no seu livro Sociofobia, o que vocĂȘ queria realmente era escrever sobre a ideia de fraternidade, e nĂŁo sobre tecnologias digitais de comunicação. Ă muito ingĂȘnuo pensar que as redes sociais possam contribuir para uma maior fraternidade social?
No fundo, eu nunca me interessei muito pela tecnologia digital. O que acontece Ă© que acabei arrastado para estudar isso porque, em muitos dos problemas que me interessavam, eu detectava que se recorria Ă tecnologia digital como uma solução que me parecia fictĂcia, tanto em questĂ”es da educação como da polĂtica, e em especial no que respeita aos processos de polĂtica emancipatĂłria.
Um dos problemas que temos observado nas Ășltimas dĂ©cadas, a partir da filosofia polĂtica e da sociologia crĂtica, Ă© que, de alguma forma, os processos emancipatĂłrios exigem condiçÔes nĂŁo apenas materiais e polĂticas, mas tambĂ©m sociais, no sentido da necessidade de uma certa urdidura de relaçÔes para que eles aconteçam. Aprofundar a democracia torna-se muito complexo quando se estĂĄ em uma sociedade muito atomizada e muito individualista.
Creio que os que veem com mais otimismo o auge do paradigma digital tendem a pensar que aĂ se oferece uma solução aos dilemas contemporĂąneos da sociabilidade, e que esse paradigma aportaria potencialidades crĂticas [N. do T.: Esse Ă© exemplarmente o caso da assim chamada corrente âaceleracionistaâ, inspirada pelos trabalhos de Gilles Deleuze e Felix Guattari, amadurecida por Antonio Negri e Michael Hardt, e que encontra em Steven Shaviro, Alex Williams e Nick Srnicek seus âgurusâ atuais. No Brasil, foi recepcionada sobretudo pelo âpĂłs-tudismoâ do coletivo Universidade NĂŽmade]. Eu vejo o contrĂĄrio: creio que sĂł quando saibamos solucionar ou superar essa fragilização das relaçÔes sociais, encontraremos usos para as tecnologias da comunicação que hoje sequer imaginamos.
Enquanto isso, o que se vĂȘ nas redes sociais Ă© que esse estado de fragilização social e atomização pode tornĂĄ-las muito destrutivas. Nelas, nos insultamos continuamente e produzimos essas dinĂąmicas de linchamento tĂŁo perniciosas [N. do T.: Para uma abordagem do fenĂŽmeno dos linchamentos virtuais e da âpĂłs-censuraâ, veja-se o instigante ensaio de Juan Soto Ivars, publicado pela editora Debate, de Barcelona, em 2017: Arden las redes. La poscensura y el nuevo mundo virtual]. No momento resta muito pouca fraternidade.
VocĂȘ crĂȘ que as redes sociais seriam antes de mais nada uma armadilha para controlar mais as pessoas ou para obter informação para uso comercial? Estariam na realidade mais a serviço do chamado Big Data que das relaçÔes interpessoais?
Aqui tambĂ©m vejo uma grande continuidade entre os processos de controle social que estamos vivendo agora e os que se viveram no passado. Ă verdade que agora a AudiĂȘncia Nacional [N. do T.: Tribunal de terceira instĂąncia na Espanha, que zela, tambĂ©m, pela aplicação da assim chamada Lei Mordaça, aprovada pelo governo do Partido Popular (direita), e que, desde 2017, restringe arbitrariamente as liberdades de reuniĂŁo, expressĂŁo e informação no paĂs] se dedica a vigiar o Twitter e as redes sociais, para botar as pessoas na cadeia. Mas Ă© igualmente verdade que ela vem encarcerando gente e fechando meios de comunicação por conta de suas opiniĂ”es hĂĄ muito tempo.
Hoje todos conhecem Pablo HasĂ©l [N. do T.: rapper comunista espanhol, condenado judicialmente em 2014 por âapologia ao terrorismoâ, por suas letras em defesa de grupos armados de extrema esquerda da dĂ©cada de 70] e Edward Snowden, que sĂŁo associados ao ambiente digital⊠Mas menos gente se lembra do diretor do jornal vasco Egunkaria, Martxelo Otamendi, que em 2003 foi torturado por forças policiais sob a supervisĂŁo de um juiz da AudiĂȘncia Nacional [N. do T.: Uma vez denunciadas as torturas, o caso foi habilmente acobertado pela justiça espanhola, o que levou a Corte Europeia de Direitos Humanos (ou Tribunal de Estrasburgo) em 2012 a condenar o Estado espanhol a uma indenização de 48 mil euros em favor de Otamendi, por prevaricação e danos morais].
Entre os dois Ăąmbitos (o digital e o analĂłgico) hĂĄ uma considerĂĄvel continuidade. Fala-se do controle biomĂ©trico que as redes sociais podem introduzir, mas na Espanha o controle biomĂ©trico existe hĂĄ dĂ©cadas e se chama carnĂȘ de identidade. Aos catorze anos todos sĂŁo obrigados a registrar suas digitais, algo que, para os de fora da Espanha, parece um pesadelo orwelliano, enquanto na Espanha sempre pareceu algo absolutamente normal [N. do T.: O mesmo se diga da recente identificação biomĂ©trica compulsĂłria feita pela Justiça Eleitoral brasileira, que obrigou os eleitores a registrarem eletronicamente todas as suas digitais, ao invĂ©s, funcionalmente, de apenas um dedo (como nos bancos). Por que razĂŁo tal zelo de controle? por qual funcionalidade eleitoral?âŠ]. Desse modo, tambĂ©m Ă© preciso refletir sobre a tolerĂąncia que tivemos no passado a respeito dessas formas de repressĂŁo e se perguntar por que sĂł quando entram as redes digitais isso começaria a nos preocupar.
E quanto ao tema do Big Data, o Ășnico que ele fez, mais uma vez, foi acelerar tendĂȘncias jĂĄ em curso. Ă verdade que o desenho que configurou o ambiente digital nas Ășltimas dĂ©cadas, regido por uma perspectiva radicalmente mercantil, facilitou a emergĂȘncia desse fenĂŽmeno. Se o ambiente digital tivesse sido regulado por instituiçÔes pĂșblicas, teria sido mais fĂĄcil impedir os abusos desse processo de exploração mercantil, mas como todo seu desenvolvimento foi privado, agora sai mais caro correr atrĂĄs do prejuĂzo que a semente mercantil plantou.
TambĂ©m Ă© verdade que, na exploração do Big Data para o desenvolvimento de ferramentas repressivas se sobrepĂ”e uma tradição de polĂticas punitivas no contexto neoliberal. Pensar essas coisas apenas em termos de um Grande IrmĂŁo digital Ă© nĂŁo entender toda a sua extensĂŁo.
O mesmo acontece com o extrativismo digital, ou seja, todo esse conjunto de açÔes destinado a converter nossas relaçÔes sociais em fonte de lucro para as grandes empresas. Nosso capital social e relacional, que serve, por exemplo, para pĂŽr em aluguel uma acomodação no AirBnB ou ser motorista em um serviço de transporte, Ă© explorado por uma empresa que nĂŁo faz nada mais senĂŁo dispor uma mĂnima estrutura digital. Isso me parece ter um parentesco muito prĂłximo com os processos prĂ©vios de financeirização, que existem desde o começo dos anos 80, e pelo qual as maiores fortunas sĂŁo geradas a partir de nĂŁo produzir basicamente nada. Essas dinĂąmicas extrativas exploram novos territĂłrios. Uma vez esgotado o mundo real, o mundo digital passa a ser o novo terreno a colonizar.
Em suma, pode-se dizer entĂŁo que a eclosĂŁo das tecnologias digitais serviu principalmente para acelerar ou intensificar processos sociais que jĂĄ estavam em curso, mas que, em essĂȘncia, nĂŁo revolucionou nadaâŠ
Exatamente. Eu sou um marxista e um materialista bem clĂĄssico, e os marxistas servimos para ser chatos, para dizer sempre o mesmo. E Ă s vezes isso Ă© Ăștil. Algumas vezes somos apenas chatos, e nĂŁo servimos para nada, mas em outras vezes, quando todo mundo estĂĄ insistindo no novo, que estamos em um contexto novo e que isso Ă© uma nova fronteira, eu creio que os chatos somos Ășteis, porque lembramos que nas nossas sociedades muitas vezes as continuidades pesam mais que as rupturas.
Certa vez vocĂȘ afirmou que o consumismo faz com que as pessoas tenham vidas frustradas, estragadas [no original: âvidas dañadasâ]. De que modo esse sistema estraga ou prejudica a vida das pessoas?
O consumismo não consiste apenas em comprar muito. O consumismo é, antes, um ideal de vida boa e de autorrealização no mercado, através da compra e venda, e é um modelo de vida muito disseminado no qual todos, por desgraça, participamos em alguma medida.
E Ă© um modelo que produz vidas frustradas porque impede a vocĂȘ ter um projeto de vida boa minimamente coerente. VocĂȘ fica entregue aos caprichos do mercado, como se fosse um hamster perseguindo a Ășltima novidade, a tendĂȘncia que esteja na moda.
Aspirar a ter uma vida boa exige ter tambĂ©m um certo projeto moral de vida, exige pensar que tipo de pessoa vocĂȘ pretende ser, trabalhar nessa construção e assumir que Ă s vezes tambĂ©m fracassamos. Eu creio que o consumismo dinamita isso, porque atomiza completamente a sua vida e torna vocĂȘ tĂŁo simplesmente um eleitor racional que passa a ter como Ășnica perspectiva de vida o agora. VocĂȘ nĂŁo tem nem passado nem futuro. Suas Ășnicas perspectivas sĂŁo suas preferĂȘncias presentes, que amanhĂŁ vĂŁo mudar e jĂĄ serĂŁo diferentes das de ontem. Eu creio que, durante perĂodos curtos de vida, isso atĂ© possa ser excitante ou interessante, mas no mĂ©dio prazo⊠sĂŁo vidas terrĂveis! SĂŁo vidas completamente vazias, seguramente porque sĂŁo inconsistentes com nossa natureza humana. NĂŁo somos assim. Somos seres que precisamos articular um passado e ter projetos de futuro, em geral compartilhados.
Se vocĂȘ tivesse que apontar qual a carĂȘncia ou problema mais importante do nosso atual estilo de vida, qual apontaria?
A desigualdade. Estou cada vez mais convencido de que a falta de igualdade Ă© o motivo mais profundo das vidas frustradas que levamos. Sei que Ă© um valor muito controvertido, e Ă© o aparentemente mais feio do binĂŽmio liberdade-igualdade [N. do T.: para um pequeno excurso sintĂ©tico sobre o tratamento que Norberto Bobbio deu Ă relação lĂłgica entre liberdade e igualdade, consulte-se a entrevista dada por este tradutor]. AlĂ©m disso vivemos em um momento de tremenda exuberĂąncia da liberdade: atualmente a liberdade Ă© um valor cotado em alta, enquanto a igualdade Ă© vista com suspeita. Reconhece-se a igualdade de oportunidades, mas isso Ă© uma degeneração absoluta do ideal igualitĂĄrio. A igualdade de oportunidades Ă© pura meritocracia. E isso nĂŁo tem nada a ver com a igualdade. A igualdade tem a ver com a chegada, nĂŁo com o ponto de partida. Estou absolutamente convencido de que, sem uma recuperação de um modelo de igualdade forte, Ă© completamente impossĂvel recuperar os ideais emancipatĂłrios ilustrados.
Leia mais
- Redes sociais formaram bolhas na internet que restringem circulação de opiniÔes e ideias. Entrevista especial com Raquel Recuero. Revista IHU On-Line, N° 502
- Redes sociais criam bolhas ideolĂłgicas inacessĂveis a quem pensa diferente
- Outra vez o método Trump gera escùndalo no Twitter
- A bolha do Facebook e a astĂșcia do capitalismo
- Redes sociais criam 'bolhas polĂticas' e incrementam polarização
- Os absurdos do algoritmo que escolhe as notĂcias do Facebook
Â