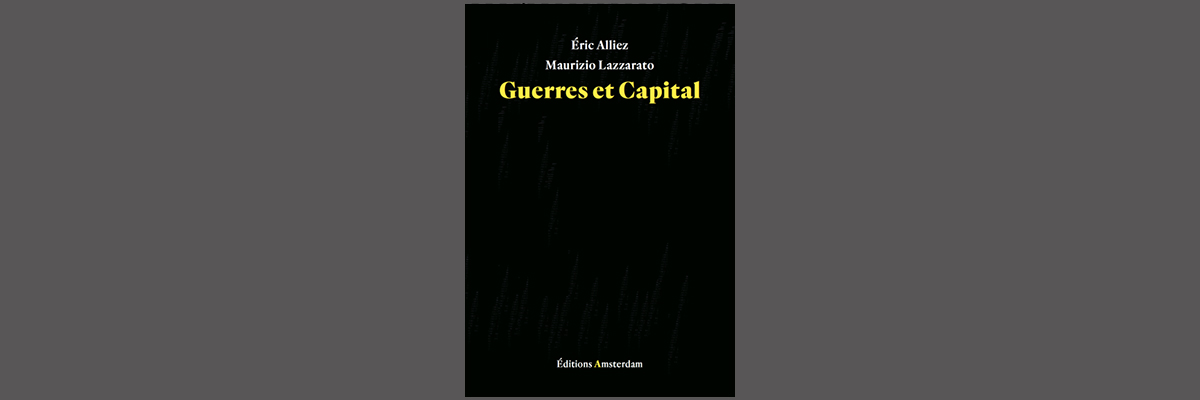11 Fevereiro 2017
"É impossível resumir o fogo cruzado rizomático (homenagens a Deleuze-Guattari) intelectual que Era da Ira dispara. Certo é que para compreender a atual guerra civil global, é essencial a reinterpretação arqueológica da narrativa dominante no Ocidente nos últimos 250 anos. É isso, ou estaremos condenados, como clones patéticos do sempre mesmo Sísifo, a sofrer, não só o mesmo pesadelo perene da história mas, também, o mesmo perene revide", escreve Pepe Escobar, jornalista, em artigo publicado por Outras Palavras 09-02-2017. A tradução é de Vila Vudu.
Eis o artigo.
Vez ou outra, depois de (longo) intervalo, surge um livro que rompe a visão de uma época, iluminando à volta como um diamante enlouquecido. Age of Anger [“Era da Ira”], de Pankaj Mishra, autor do também seminal From the Ruins of Empire [“Das Ruínas do Império”], pode perfeitamente ser o mais recente avatar.
Pense nesse livro como a mais moderna arma (conceitual) letal, nos corações e mentes de uma Terra Arrasada Adolescente cosmopolita sem raízes desesperada para encontrar sua real vocação, enquanto rastejamos pela mais longa – o Pentágono diria: pela infinita guerra– das guerras mundiais: uma guerra civil global (a qual, em meu livro Globalistan, de 2007, chamei de “Guerra Líquida).
Mishra, autêntico produto de Oriente-encontra-Ocidente, argumenta, em essência, que é impossível compreender o presente, se não reconhecemos a subterrânea nostalgia da saudade de casa sempre a contradizer o ideal do liberalismo cosmopolita — a “sociedade comercial universal dos indivíduos racionais autointeressados” conceitualizada pela primeira vez pelo Iluminismo via Montesquieu, Adam Smith, Voltaire e Kant.
A narrativa vencedora da História acabou por ser a narrativa saneada do Iluminismo benevolente. O esperado é que a tradição do racionalismo, humanismo, universalismo e da democracia seria sempre a norma. Foi “claramente desconcertante” – escreve Mishra – “perceber que a política totalitária cristalizara as correntes ideológicas (racismo científico, racionalismo jingoísta, imperialismo, tecnicismo, política estetizada, utopismo, engenharia social)” que já convulsionavam a Europa no final do século 19.
Assim sendo, evocando T.S. Eliot, para dar conta “do meio olhar para trás por cima do ombro, para o primitivo terror” que acabou por levar a O Ocidente versus O Resto, temos de olhar para os precursores.
Quebrar o Palácio de Cristal
Entra Eugênio Oneguin[1] de Pushkin – “o primeiro de muitos ‘homens supérfluos’ na ficção russa”, com seu chapéu Bolívar,[2] agarrado a uma estátua de Napoleão e a um retrato de Byron, como a Rússia, tentando fazer-se de Ocidente, “juventude espiritualmente deserta produzida em massa com uma quase Byroniana concepção de liberdade, e ainda mais inflada pelo Romantismo Alemão.” Os melhores críticos do Iluminismo tiveram de ser alemães e russos –, retardatários na chegada à modernidade político-econômica.
Dois anos antes de publicar o espantoso Memórias do Subsolo[3] (1864), Dostoievsky, em seu tour pela Europa Ocidental, já via a sociedade dominada pela guerra de todos contra todos na qual muitos estavam condenados a perder sempre.
Em Londres, em 1862, na Feira Internacional no Palácio de Cristal, Dostoievski teve uma iluminação (“Você se dá conta de uma ideia colossal (…) que aqui há vitória e triunfo. Você até começa, vagamente, a temer alguma coisa.”) Em pleno estupor, Dostoievski era sensível o bastante para observar o quanto a civilização materialista era reforçada, tanto pelo próprio glamour como pela dominação militar e marítima.
A literatura russa viria depois a cristalizar o crime aleatório como o paradigma da individualidade que saboreia a identidade e afirma o próprio desejo (adiante refletido em meados do século 20 pelo ícone beat William Burroughs a clamar que disparar tiros ao acaso é o que mais o excita).
O caminho estava cavado para que o montante banquete dos mendigos se pusesse a bombardear o Palácio de Cristal – até, como Mishra nos relembra, “intelectuais no Cairo, em Calcutá, Tóquio e Xangai estavam lendo Jeremy Bentham, Adam Smith, Thomas Paine, Herbert Spencer e John Stuart Mill” para compreender o segredo da burguesia capitalista em perpétua expansão.
E isso depois que Rousseau, em 1749, lançara as fundações da revolta moderna contra a modernidade, agora estilhaçada numa selva de ecos-imagens especulares, com o Palácio de Cristal já, de fato, implantado em guetos fulgurantes por todo o mundo.
Mistah Ilustrado – está morto
Mishra credita a ideia de seu livro a Nietzsche comentando a querela épica entre Rousseau, o plebeu invejoso, e Voltaire, serenamente elitista – que saudava devidamente a Bolsa de Valores de London, quando ela se tornou completamente operacional, como uma corporificação secular de harmonia social.
Mas foi Nietzsche quem acabou por destacar-se do casting central como furioso detrator, tanto do capitalismo liberal como do socialismo, para fazer da sedutora promessa da vinda de Zaratustra um Santo Graal imantado para os bolcheviques (mas Lênin a odiava), para a ala esquerda de Lu Xun na China, para fascistas, anarquistas, feministas e hordas de estetas desmazelados.
Mishra também nos relembra como “anti-imperialistas asiáticos e barões-ladrões norte-americanos beberam avidamente” de Herbert Spencer, “o primeiro pensador verdadeiramente global” que cunhou o mantra da “sobrevivência do mais apto”, depois de ler Darwin.
Nietzsche foi o cartógrafo consumado do Ressentimento. Max Weber profeticamente pintou o mundo moderno como uma “jaula de ferro” da qual só o líder carismático pode oferecer fuga. Mikhail Bakunin, ícone anarquista, por sua vez, em 1869 já havia conceitualizado o “revolucionador” como aquele que quebra “todos os laços com a ordem social e com todo o mundo civilizado (…) É seu mais impiedoso inimigo e só continua a habitar nele com um único propósito – destruí-lo.”
Escapar do “pesadelo da história” – de fato da jaula de ferro da modernidade – de James Joyce o Modernista Supremo –, uma secessão visceralmente militante para bem longe “de uma civilização cuja premissa é o progresso gradual sob tutores liberal-democratas”, é agora movimento que ruge, fora de controle, já muito além da Europa.
Ideologias que podem até ser radicalmente opostas mesmo assim cresceram simbioticamente do redemoinho cultural do final do século 19, a partir do fundamentalismo islamista, do nacionalismo sionista e hindu, para o bolchevismo, o fascismo e o imperialismo reformulado.
Não só a 2ª Guerra Mundial, mas o fechamento atual do jogo, também foi visualizado pelo trágico, brilhante, Walter Benjamin nos anos 1930, quando já alertava para a autoalienação da humanidade, afinal capaz de “experienciar a própria destruição como prazer estético de primeira ordem.” Os jihadistas ‘Faça-você-mesmo’ que se veem ao vivo hoje são a versão pop, enquanto o ISIS tenta configurar-se ele mesmo como a derradeira negação das piedades da modernidade – neoliberal.
A Era do Ressentimento
Tecendo saborosos fluxos de polinização cruzada de política e literatura, Mishra alonga-se no processo de preparar o cenário para O Grande Debate entre (i) aquelas massas do mundo em desenvolvimento cujas vidas são pisoteadas pela “ainda em grande parte não percebida história de violência” do Ocidente Atlanticista e (ii) as elites da modernidade líquida (Bauman) brotadas da (seleta) parte do mundo que converteu em ciência, filosofia, arte e literatura os avanços cruciais, desde o Iluminismo.
Vai muito além de mero debate entre Oriente e Ocidente. Não se pode compreender a atual guerra civil global, esse “intenso mix de inveja e senso de humilhação e impotência pós-moderno e pós-verdade”, se não tentarmos “desmantelar a arquitetura conceitual e intelectual dos vencedores da história no Ocidente”, traçada a partir da história triunfalista dos super-grandes-feitos anglo-norte-americanos.
Mesmo no auge da Guerra Fria, o teólogo norte-americano Reinhold Niebuhr zombava dos “fascistas brandos da civilização ocidental”, na sua fé cega de que todas as sociedades estariam destinadas a evoluir exatamente como um punhado de nações o Ocidente – algumas vezes – evoluíram.
E isso – que ironia! – enquanto o culto liberal internacionalista do progresso flagrantemente mimetizava o sonho marxiano de uma revolução internacionalista.
No prefácio que escreveu em 1950 para Origens do Totalitarismo – best-seller ressurgente na Amazon – Hannah Arendt nos diz, essencialmente, que esqueçamos qualquer projeto para alguma eventual restauração da velha ordem mundial; fomos condenados a assistir à história que se repete, “sem-tetos numa escala sem precedente, desenraizamento numa profundidade jamais vista.”
Enquanto isso, como Carl Schorske anotou em seu espetacular Viena Fin-De-Siècle,[4] a intelectualidade norte-americana cortou o “cordão da consciência” que ligava o passado ao presente; sanearam grosseiramente a história; e então séculos de guerra civil, de saque imperial, de genocídio e escravidão na Europa e na América simplesmente desapareceram. Só se permitiu uma narrativa TINA (there is no alternative): o quanto e como os Atlanticistas privilegiados com a razão e com a autonomia individual fizeram o mundo moderno.
Entra em cena o estraga-prazeres máster Jalal Al-e-Ahmad, nascido em 1928 na parte sul, pobre, de Teerã, e autor de Westoxification [aprox. Ocidentoxificação] (1962), texto de referência chave da ideologia islamista, no qual ele escreve como o Erostrato[5] de Sartre, de olhos vendados, dá tiros de pistola contra o povo pela rua; o protagonista de Nabokov joga o próprio carro contra uma multidão; e Mersault, protagonista de O Estrangeiro,[6] mata alguém a tiros como resultado de um mal-estar provocado por uma insolação. É a mais letal das encruzilhadas – o existencialismo cruza na rua com as favelas de Teerã para destacar o que Hanna Arendt chamou de “solidariedade negativa”.
E entra Abu Musab al-Suri, nascido em 1958 – um ano depois de Osama bin Laden – numa família devota, de classe média, em Aleppo. Foi al-Suri – não o egípcio Al-Zawahiri – que arquitetou a estratégia global sem líder dos jihadistas, The Global Islamic Resistance Call, baseada em “células não conectadas” e “operações individuais”. Al-Suri foi o Samuel “choque das civilizações” Huntington da al-Qaeda. Mishra o define como “o Mikhail Bakunin do mundo muçulmano”.
Aquela ‘sífilis das paixões revolucionárias’
Em resposta ao meme neo-Hegeliano idiota do “fim da história” ao final da Guerra Fria, Allan Bloom alertou que o fascismo poderia ser o futuro; e John Gray telegrafou o retorno de “forças primordiais, nacionalistas e religiosas, fundamentalistas e em breve talvez, malthusianas.”
E isso nos leva a por que os excepcionais portadores do Iluminismo humanista e racional não conseguem explicar o torvelinho geopolítico atual – do ISIS a Brexita e Trump. Jamais conseguiram qualquer coisa mais sofisticada que oposição binária de “livres” e “não livres”; os mesmos clichês ocidentais do século 19 sobre o não Ocidente; e a incansável demonização daquele perenemente retrógrado Outro: o Islã. Daí a nova “guerra longa” (terminologia do Pentágono) contra o “islamofascismo.”
Essa gente não poderia jamais compreender, como insiste Mishra, as implicações daquele encontro de mentes, numa prisão Supermax no Colorado, do bombardeador de Oklahoma City, super norte-americano Timothy McVeigh, e o cérebro do primeiro ataque contra o World Trade Center, Ramzi Yousef (muçulmano não devoto, pai paquistanês, mãe palestina).
Tampouco podem compreender como os conceitualizadores do ISIS arregimentam online um adolescente insultado, agredido de um subúrbio de Paris ou de uma favela africana, e convertem-no num dandy narcisista – Baudelaireano? – leal a uma causa elevada pela qual vale a pena lutar. Nada há a estranhar no paralelo entre o jihadista ‘Faça-você-mesmo’ e o terrorista russo do século 19 – que encarnava a “sífilis das paixões revolucionárias”, como Alexander Herzen o descreveu.
E o principal inimigo do jihadista ‘Faça-você-mesmo’ não é sequer cristão: é o xiita “apóstata”. Estupros em massa, assassinatos coreografados, a destruição de Palmyra, Dostoievski já os identificara todos; como diz Mishra, “é impossível para os Raskolnikovs[7] de hoje negarem-se qualquer coisa a eles mesmos, e é possível justificarem qualquer coisa.”
É impossível resumir o fogo cruzado rizomático (homenagens a Deleuze-Guattari) intelectual que Era da Ira dispara. Certo é que para compreender a atual guerra civil global, é essencial a reinterpretação arqueológica da narrativa dominante no Ocidente nos últimos 250 anos. É isso, ou estaremos condenados, como clones patéticos do sempre mesmo Sísifo, a sofrer, não só o mesmo pesadelo perene da história mas, também, o mesmo perene revide.
[1] PUSHKIN, Alexander [1794-1837]. Eugênio Oneguin (1833), Rio de Janeiro: Record, 2010. 1ª trad. ao português, de Dário Moreira de Castro Alves.
[2] Interessante: “Das florestas do Maine às encruzilhadas rústicas no Tennessee, os jornais norte-americanos noticiavam sem parar as reviravoltas das lutas no Chile e na Colômbia. Centenas de pais e mães norte-americanos davam aos bebês o nome de Simón Bolívar, o gigante que liderava rebeliões na Venezuela e por toda parte, enquanto compositores ianques cantavam e bailavam ao som de “Gen. Bolívar’s Grand March & Quick Step.” As damas compravam ‘chapéus Bolívar’, com abas largas e muitas penas, e todos brindavam à liberdade sul-americana. Enquanto isso, agentes rebeldes acorriam aos EUA para comprar armas, buscar apoio oficial e conquistar a opinião pública.” (Comentário a FITZ, Caitlin. Our Sister Republics, Ed. Liveright, 2010. In Wall Street Journal25/7/2016). Há uma estátua de Simón Bolívar em San Francisco, EUA, em que se vê o famoso chapéu [NTs].
[3] DOSTOIÉVSKI, Fiódor [1821-1881]. Memórias do subsolo (1864), São Paulo: Ed. 34. Tradução Bóris Schnaiderman, 2000 (1ª. ed.), 2009 (6ª ed.).
[4] SCHORSKE, Carl E. Viena Fin-de-siècle: Política e Cultura, São Paulo: Companhia das Letras/Unicamp, 1988. Trad. Denise Bottmann (aqui, uma resenha interessante).
[5] SARTRE, Jean-Paul. “O Erostrato” [1939]. In O Muro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982, p. 69-87. Trad. H. Alcântara Silveira.
[6] CAMUS, Albert [1913-1960]. O Estrangeiro (1942). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016. Trad. Valerie Rumjanek.
[7] Personagem de DOSTOIÉVSKI, Fiódor [1821-1881]. Crime e Castigo (1866), Lisboa: Editora Europa-América. Trad. Adelino dos Santos Rodrigues. Gratuitamente online, da Editora Sabotagem, aqui.
Leia mais
- "O iluminismo continua oferecendo uma arma contra o fanatismo"
- Iluminismo e Igreja Católica. Artigo de Giannino Piana
- A atualidade de Hannah Arendt
- Filosofia, mística e espiritualidade. Simone Weil, cem anos. Revista IHU On-Line N° 313
- Max Weber, o protestantismo e o capitalismo
- Nietzsche Filósofo do martelo e do crepúsculo. Revista IHU On-Line N° 127
- De Dostoiévski a hoje: a fenomenologia do mal cotidiano. Artigo de Roberto Esposito
- Kant: Razão, Liberdade e Ética. Revista IHU On-Line N° 93
- Adam Smith: filósofo e economista. Revista IHU On-Line N° 323