11 Junho 2012
“Ter o nome do pai nos documentos deve ser um direito dos filhos, não uma obrigação social a que esses filhos devam atender”, adverte a pesquisadora.
Confira a entrevista. 
Filhos que buscam o reconhecimento paterno através da justiça, via exame de DNA, pretendem “reparar um passado associado ao estigma de não ter a paternidade reconhecida”. Nesse sentido, “o reconhecimento significa também poder dizer legitimamente de quem se é filho”. Essas são as constatações da antropóloga e doutora em Ciências Sociais Sabrina Finamori, autora da tese Os sentidos da paternidade: dos “pais desconhecidos” ao exame de DNA.
Em entrevista concedida por e-mail para a IHU On-Line, a pesquisadora relata as experiências e sentidos que a paternidade representa para filhos com históricos diferenciados. Segundo ela, para os filhos que buscam informação sobre a identidade paterna, esta tem uma importância que vai além das dimensões econômicas. O reconhecimento da paternidade pode levar “a reelaborações mais profundas daquilo que um sujeito sabe sobre si mesmo, sua própria história e seu passado”, aponta. Na entrevista que a seguir, Sabrina também faz uma revisão de como, no âmbito legal, a filiação e a paternidade foram, ao longo do século XX, qualificadas de maneiras diferentes.
Sabrina Finamori é mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas, com a dissertação: O gênero e a espécie: paternidade e sexualidade nas décadas de 1920 e 1940, e doutora em Ciências Sociais na área de Estudos de Gênero, onde defendeu a tese Os sentidos da paternidade: dos “pais desconhecidos” ao exame de DNA. Tem pesquisas nos seguintes temas: parentesco, família, gênero, raça, sexualidade e eugenia.
Confira a entrevista.
IHU On-Line – Qual o sentido da paternidade para aqueles que conhecem seus pais através de um exame de DNA? O fato de a paternidade ser determinada por uma legislação produz qual sentido ao reconhecimento paterno? 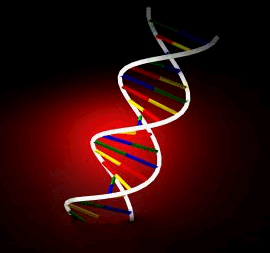
Sabrina Finamori – Durante a pesquisa, fiz entrevistas aprofundadas com quatro filhos adultos que buscavam o reconhecimento legal de paternidade e as analisei em conjunto às mudanças históricas nas leis e nas técnicas de investigação de paternidade. Mais do que entrevistas circunscritas a um processo legal ou ao exame de DNA, trabalhei com narrativas de vida centradas na infância, nas relações mais amplas de parentesco, nos episódios sociais em que a falta do reconhecimento paterno causou algum tipo de constrangimento social, culminando com a situação de impasse que teria levado esses filhos a iniciarem uma ação judicial. Embora a informação fornecida pelo exame de DNA tenha assumido ares de verdade absoluta sobre as relações de parentesco, ele nem sempre tem primazia na trajetória que cada filho empreende em busca do pai.
Na maioria das narrativas que analisei, o conhecimento primordial sobre a identidade paterna foi antes proveniente da palavra da mãe do que do resultado positivo do exame de DNA. Nesse sentido, a maioria desses filhos dizia ter certeza sobre a identidade paterna, afirmando, ainda, que seus pais também sabiam do laço que os unia. Antes de decidirem entrar com uma ação judicial, grande parte deles esperou que a paternidade fosse voluntariamente reconhecida. Nessa direção, uma das hipóteses que levanto é a de que, depois de haver uma longa espera dos filhos por um reconhecimento espontâneo do pai, a abertura de um processo e a realização de um exame de DNA passam a ser consideradas não só como formas de obter um direito que lhes têm sido negado, mas também de dar um desfecho, seja ele qual for, à própria história. Nas situações em que o processo leva a uma validação legal e biológica da paternidade, os filhos, em geral, têm consciência de que isso não resultará necessariamente em uma relação afetiva com o pai, mas, ainda assim, essa validação aquilataria diferentemente a decisão do pai em ter ou não uma relação, uma vez que estaria, a partir daí, marcada pelo aceite ou rejeição de uma pessoa biológica e legalmente identificada como filho.
IHU On-Line – Uma das pessoas que você entrevistou para a pesquisa disse que seu maior desejo era ser reconhecido “filho” e não reconhecer o “pai”. Como essa relação de reconhecimento e reconhecido se estabelece entre pais e filhos desconhecidos? Como os sentidos da paternidade são construídos, significados e ressignificados após a comprovação da paternidade?
Sabrina Finamori – Em geral, essa relação envolve duas dimensões: a do conhecimento e a do reconhecimento em seu sentido jurídico. Para tomarmos como exemplo a história de Ricardo, que você citou na pergunta, ele sabe quem é seu pai desde a infância e eles tiveram um contato regular durante toda a vida. O pai também não esboça dúvidas de que ele seja seu filho, mais do que isso: toda a parentela paterna sabe que eles são pai e filho, já que, há mais de vinte anos, Ricardo frequenta as festas da família paterna. Quando decidiu entrar com a ação judicial, ele me disse que seu maior desejo era “ser reconhecido filho” e “não reconhecer o pai” uma vez que este já é “conhecido e aceito como tal”. Ao colocar a questão nesses termos, Ricardo reforça o valor jurídico do reconhecimento de paternidade. Ou seja, embora ele tenha tido uma relação afetiva com o pai ao longo da vida (ainda que com vários percalços), a presença do nome do pai na certidão de nascimento é para ele importante não só pelas consequências materiais que trará, mas significa, em certa medida, reparar um passado associado ao estigma de não ter a paternidade reconhecida. Ou seja, para ele o reconhecimento significa também poder dizer legitimamente de quem se é filho.
Pai versus filho
Dos filhos que entrevistei, apenas João não teve um contato com o pai ou uma tentativa de aproximação antes de entrar com o processo na justiça, e apenas nesse caso o exame de DNA foi negativo. Apesar de não ter havido uma convivência anterior entre pai e filho, João tinha construído um imaginário sobre a identidade paterna baseado nas histórias que ouviu sobre a ascendência árabe do pai. Uma prima, que conhecia o suposto pai, achava-os fisicamente parecidos e João diz que desenvolveu inclusive um gosto pelos costumes e pela comida árabe. Quando entrou com o processo judicial e o exame de DNA foi negativo, toda a narrativa que ele tinha sobre sua história familiar paterna se desmoronou. Ele conta que, a partir daí, passou a se sentir mais próximo da ascendência da mãe. A parte árabe que, até então, ele julgava possuir deixou, segundo ele, de importar. Essa história é muito interessante porque mostra, pelo reverso, ou seja, pela negativa de uma paternidade, a abrangência de sentidos que a paternidade e sua validação (legal ou biológica) pode ter para os filhos. Para além das dimensões legal e econômica, a informação sobre a identidade paterna pode levar, ainda, a reelaborações mais profundas daquilo que um sujeito sabe sobre si mesmo, sua própria história e seu passado.
IHU On-Line – A paternidade também tem sentido, por outro lado, para os pais que
acabam reconhecendo os filhos?
Sabrina Finamori – Todas as narrativas que abordei são histórias nas quais não há, por assim dizer, um final feliz, uma vez que os pais continuam resistindo em reconhecer a paternidade. Uma de minhas entrevistadas estava passando por um longuíssimo processo judicial e, mesmo depois do exame de DNA positivo e de decisões favoráveis da justiça, o pai continuava recorrendo e rejeitando a relação. Como as entrevistas foram feitas apenas com filhos e são histórias muito centradas no abandono ou na resistência do homem ao reconhecimento, não tenho condições de discorrer sobre o outro lado da moeda. É, contudo, interessante analisar o efeito que a própria história de paternidade tem na decisão dos filhos em se tornarem pais ou mães. Dois dos meus entrevistados tiveram reflexões díspares a esse respeito, profundamente marcadas pelo gênero. Ricardo ressaltou que sempre quis ser pai para agir diferentemente de seu progenitor e, quando sua filha nasceu, a imagem mitificada que ele tinha sobre o próprio pai ruiu. Segundo ele, ao “sentir” a filha, ver “aquela criatura indefesa” e se perceber como o “gestor inicial daquela vida”, ele passou a questionar porque o próprio pai não o tinha visto do mesmo modo. Já Samanta, que ainda não tem filhos, destacou que não desejava tê-los porque temia que sua própria história de abandono se repetisse com um filho seu. Ou seja, como mulher, ela considerava que não teria controle sobre o tipo de pai que um possível parceiro poderia ser para seu filho. Essas são, obviamente, elaborações muito particulares de cada sujeito e estão longe de espelhar uma generalidade. Ainda assim, mostram o impacto que a falta do reconhecimento paterno tem, muitas vezes, nas decisões futuras e nas reflexões dessas pessoas não só sobre suas posições como filhos, mas também como pais ou mães.
IHU On-Line – Que razões motivam alguns filhos que têm pais desconhecidos a buscarem a identidade paterna e o reconhecimento dos pais?
Sabrina Finamori – Em primeiro lugar, é importante destacar que nem todo filho com um “pai desconhecido” deseja conhecer a identidade paterna e obter o reconhecimento legal de paternidade. Faço essa ressalva porque o enfoque da tese está em narrativas nas quais o reconhecimento de paternidade aparece como um elemento desejável pelos filhos. Isso pode levar à suposição errônea de que todos os filhos desejem saber quem é seu pai ou de que ter um pai reconhecido seja condição sine qua non para a uma trajetória mais saudável ou feliz. Como pesquisadora, jamais parti desse pressuposto. Pelo contrário, ao questionar porque tantos filhos desejam obter o reconhecimento paterno, eu tinha também no horizonte o fato de que há, atualmente, uma enorme variabilidade de formas de família legalmente reconhecidas e socialmente bem aceitas que não necessariamente se conformam a um modelo nuclear, biológico ou heterossexual.
A pergunta era, então, por que tantos filhos desejavam ter um pai reconhecido a despeito de todas as dificuldades que pode haver num processo legal e de todo sofrimento que pode representar uma rejeição do pai. Ao recuperar as narrativas desses filhos, suas motivações apareciam relacionadas não só ao direito material decorrente do reconhecimento de paternidade (como herança e alimentos), mas também a um desejo de reparação pelo que a mãe e eles próprios passaram, em termos de dificuldades financeiras ou constrangimentos sociais, em virtude da falta do reconhecimento de paternidade. Além disso, há, obviamente, uma expectativa de que uma relação afetiva com o pai seja construída ou se fortaleça e que decorra daí uma inserção desses filhos na rede de parentesco paterna. Ao mesmo tempo, essa busca é também motivada pela vontade de conhecer as origens. Nesse sentido, saber quem é o pai biológico pode ser considerado uma forma de saber mais sobre si mesmo e sobre a própria história. Essa noção de que as informações sobre os antepassados representariam uma espécie de autoconhecimento e uma forma de o indivíduo se ancorar a um grupo que compartilha origens e uma história comum extrapola a questão do reconhecimento de paternidade e tem sido politicamente discutida em termos de “direito às origens”. Essa discussão está presente, de um modo mais geral, numa moda genealógica baseada na busca pelos antepassados mais remotos e também em discussões mais específicas sobre a abertura de arquivos da adoção e nos grupos de ajuda mútua de filhos concebidos em “produção independente” por mulheres que recorreram à reprodução assistida e que, quando adultos, buscam informações sobre o doador de gameta. No caso dos filhos que desejam o reconhecimento de paternidade, a motivação dessa busca é também, muitas vezes, descrita como uma necessidade ou uma vontade em “saber onde tudo começou”, “conhecer as origens”, “se conectar com a fonte”.
IHU On-Line – Quais são os “incômodos” que a falta de reconhecimento paterno gera nos indivíduos que não conviveram com seus pais e como isso se reflete nas demais relações sociais do indivíduo?
Sabrina Finamori – Ao buscar nas narrativas de vida os contextos em que o reconhecimento de paternidade se traduzia em um privilégio social e simbólico, me deparei com muitas histórias sobre situações escolares em que se era obrigado a fazer um presente de dia dos pais sem ter para quem entregar ou sobre o constrangimento social que representava, por exemplo, mostrar a carteira de identidade com o nome do pai em branco ou preenchido por asteriscos. Contudo, nessas narrativas o constrangimento e o sofrimento relacionado à ausência paterna estiveram menos associados às relações entre amigos ou vizinhos do que às relações dentro do próprio grupo familiar. A maioria dos meus entrevistados associou o sentimento de desigualdade em relação aos que têm um pai reconhecido aos episódios relatados pela mãe sobre a época da gravidez quando ela seria taxada pejorativamente de “mãe solteira” dentro do grupo familiar e mesmo à comparação que era feita entre eles e seus primos que tinham um pai reconhecido. Nas situações em que há grande distância social entre o pai e a mãe, a desigualdade em relação aos irmãos, filhos do casamento do pai com a mulher com que é legalmente casado, são também importantes, já que podem se refletir em trajetórias desiguais entre irmãos, em virtude, por exemplo, de diferentes investimentos feito pelo pai na educação e bem-estar dos filhos reconhecidos e dos não reconhecidos. Essa situação é bem exemplificada na tese pela história de Ricardo que, embora tenha tido uma convivência com o pai, o auxílio financeiro que ele proporcionava era muito aquém do que era oferecido às filhas do casamento.
IHU On-Line – Quais são as principais mudanças históricas da legislação em relação à paternidade? Antes da popularidade do exame de DNA, como era possível comprovar legalmente a paternidade?
Sabrina Finamori – Analisei na tese os principais marcos legais referentes ao reconhecimento de paternidade em correlação às técnicas de investigação de paternidade disponíveis ao longo do século XX. O primeiro marco legal é o Código Civil de 1916 a partir do qual torna-se possível que, em determinadas circunstâncias, os filhos entrem com a ação de investigação de paternidade. Três situações eram previstas no Código: o concubinato dos pais na época da concepção do filho; o rapto da mãe pelo pai ou as relações sexuais entre eles (situação que foi alvo de muitas controvérsias, uma vez que a interpretação era aquela de que as “relações sexuais”, dais quais falava o Código, eram as que envolviam alguma violência, como estupro) e, por último, a ação também poderia ser aberta sob o argumento de que existiria um escrito do pai reconhecendo a paternidade. Contudo, esses processos apenas podiam ser iniciados se o pai e a mãe não tivessem impedimentos para se casarem na época da concepção do filho, nem em termos de parentesco nem pelo fato de um dos dois já ser previamente casado, já que era vedado o reconhecimento de paternidade dos filhos “adulterinos” e “incestuosos”. Em conjunto à prova documental (cartas, fotos com dedicatórias) e à testemunhal, os processos abertos com base em um dos incisos do Artigo 363 do Código Civil de 1916, podiam contar também com a perícia médica, que era realizada através da análise da semelhança fisionômica entre pais e filhos, feita por meio de fotos ou do exame médico dos envolvidos.
A partir de 1927, essa perícia passa a ser feita também por meio do exame de sangue, que naquele ano começa a ser realizado no Instituto Oscar Freire em São Paulo. O exame de sangue levava, contudo, à exclusão de uma paternidade, não à sua afirmação e, por isso, dizia-se que servia mais aos homens, certos de não serem os pais, do que aos filhos ou às mulheres. Nas situações em que não excluía a paternidade era também usado pelos advogados dos filhos em conjunto a outras provas para reforçar a possibilidade da paternidade. Todavia, ele não tinha a mesma centralidade que o exame de DNA viria a adquirir nos processos legais.
Até a lei do divórcio de 1977, as mudanças legais foram muito tímidas. Em 1942, um decreto-lei permitiu que depois do desquite os filhos tidos em relações extramatrimoniais fossem reconhecidos. A lei causou controvérsias, já que, ao se referir a “desquite”, excluía, por exemplo, os filhos de viúvos ou de pessoas que tiveram o casamento anulado. Em 1949, uma nova lei condiciona a possibilidade de reconhecimento desses filhos à “dissolução da sociedade conjugal” dos pais. Vale lembrar, ainda, que, nesse período, mesmo reconhecido, o filho tinha direito a apenas metade da herança que coubesse a um “filho legítimo”. Apenas em 1977, com a lei do divórcio, torna-se possível que, durante o casamento, os filhos tidos em relações extramatrimoniais sejam reconhecidos, mas, ainda assim, apenas por testamento cerrado. É também apenas a partir daí que o direito de herança entre todos os filhos, inclusive dos adotivos, fica legalmente igualado. A equiparação completa de qualificações e direitos dos filhos tidos dentro ou fora de uma união conjugal ocorre somente na Constituição de 1988, sendo reafirmada no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA de 1990, que coloca o reconhecimento de paternidade como um direito imprescritível. Essas alterações legais culminam com a lei de paternidade de 1992, que regulamenta a investigação de paternidade e coloca a questão não apenas em termos de interesse privado, mas também público. A partir daí todas as alterações legais e projetos públicos visarão facilitar o acesso à justiça e ao exame de DNA.
IHU On-Line – Na pesquisa, você menciona que, no âmbito legal, a filiação e a paternidade foram, ao longo do século XX, qualificadas diferentemente de acordo com a situação de conjugalidade dos pais. Pode dar alguns exemplos de como ocorreu essa mudança?
Sabrina Finamori – Essa alteração legal ocorreu muito lentamente. A partir da lei do divórcio de 1977, começa a ganhar força um ponto de vista segundo o qual o casamento seria uma escolha individual de adultos e a filiação não deveria estar atrelada à situação de conjugalidade dos pais. A equiparação de direitos entre filhos concebidos dentro ou fora de um casamento se dá, todavia, apenas na Constituição de 1988, que, enfim, desvincula filiação e conjugalidade.
Ao longo do século XX, contudo, a questão da conjugalidade é fundamental para se compreender o debate jurídico sobre filiação. Nesse sentido, é importante não só destacar que os filhos provenientes de relações extramatrimoniais, por muito tempo, estiveram excluídos do direito ao reconhecimento como também lembrar que, até então, um dos argumentos frequentes para uma ação de investigação de paternidade era a relação de concubinato dos pais no momento da concepção do filho. É o caso dos três processos da primeira metade do século XX que analiso. Para que se configurasse juridicamente uma relação de concubinato (que hoje denominaríamos como união consensual estável), era fundamental que a fidelidade da mulher ao parceiro fosse comprovada. Assim, para decidir se um sujeito seria ou não o pai de outro, no centro do julgamento estava a sexualidade feminina, isto é, as testemunhas chamadas depunham ora dizendo que se tratava de uma mulher “honesta”, “séria” e “recatada”, ora argumentando que ela teria “má conduta” ou seria “meretriz”. Ainda que carecesse da oficialidade do Estado, o concubinato não deixava de ser uma relação conjugal que, quando demonstrada mediante provas da convivência do casal, do afeto e, principalmente, da fidelidade da mulher ao parceiro, podia levar à legitimação de uma paternidade. No entanto, vale lembrar que os filhos provenientes de relações extramatrimoniais continuavam excluídos. Como demonstro na tese, na legislação desse período, a proteção a famílias legalmente estabelecidas antecedia o direito dos filhos ao reconhecimento de paternidade.
No final do século XX, conjugalidade e filiação se desvinculam nas leis. Ainda assim, o tema reaparece nas narrativas dos filhos que entrevistei. Ao falarem sobre os episódios de discriminação, eles evocam justamente a valoração social que continua a ser atribuída a uma relação conjugal oficializada pelo Estado, exemplificada no juízo de valor associado à noção de “mãe solteira”, a diferença de suporte financeiro que um pai oferece a filhos tidos dentro ou fora do casamento e mesmo as desculpas de um pai que argumenta não reconhecer legalmente o filho para não destruir seu casamento. Nesse sentido, ao igualar os direitos dos filhos e dissociar filiação e conjugalidade, as leis que se seguiram à Constituição de 1988 e os projetos do Ministério Público, que visam colocar em prática a lei de paternidade de 1992, por meio de mutirões e da identificação de alunos da rede pública sem o nome do pai nos documentos, têm, com efeito, fortalecido direitos e diminuído o sentimento de desigualdade. De outro lado, contudo, é importante estarmos atentos para que esses discursos sobre a universalização do reconhecimento de paternidade não sejam usados para fortalecer uma ideia modelar de família, na qual a completude da identidade de um indivíduo seria dada pelo fato de ter um pai reconhecido, em vez de sublinhar como um valor as múltiplas formas e possibilidades de parentalidade e família. Ter o nome do pai nos documentos deve ser um direito dos filhos, não uma obrigação social a que esses filhos devam atender.




