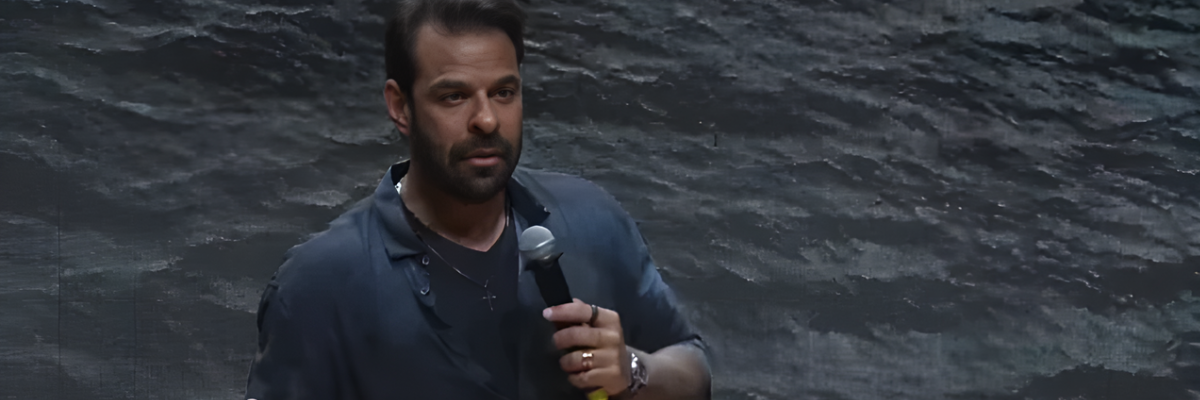13 Novembro 2012
Com a sua riqueza simbólica, a Bíblia foi, portanto, "o grande código" da cultura e do imaginário popular, mas também foi a apresentação de uma fé que une em si mesma transcendência e imanência.
A análise é de Gianfranco Ravasi, cardeal presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, em artigo publicado no jornal dos bispos italianos, Avvenire, 04-10-2012. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
Eis o artigo.
"As Sagradas Escrituras são o universo dentro do qual a literatura e a arte ocidentais atuaram até o século XVIII e ainda estão atuando em grande parte". Essa afirmação do conhecido ensaio “O grande código”, de Northrop Frye (1981) sobre a relação entre Bíblia e literatura registra um dado facilmente acessível a quem vasculhar a história cultural do Ocidente: durante séculos, de fato, a Bíblia foi o imenso léxico ou repertório iconográfico, ideológico e literário ao qual se recorreu constantemente em nível culto e em nível popular.
E se Erich Auerbach, no seu famoso Mimesis (1946), havia reconhecido na Bíblia e na Odisseia os dois modelos cruciais para a nossa cultura, Nietzsche, nos materiais preparatórios de Aurora (1881), confessava igualmente que "para nós Abraão é maior do que qualquer outra pessoa da história grega ou alemã". Tentar delinear essa presença com a multiplicidade das suas formas, ora ideias, ora degeneradas, é uma obra ciclópica, para não dizer desesperada, de tão interminável que seria toda classificação.
No entanto, no rastro de estímulos provenientes da filosofia (por exemplo, Gadamer) e da teologia (por exemplo, von Balthasar), reconheceu-se, para a compreensão da Bíblia, o relevo representado não só pelo Autor, mas também pelo Leitor, isto é, pela Tradição teológica, espiritual e artístico que, a partir da Escritura, foi gerada. Assim, configurou-se uma pesquisa chamada de Wirkungsgeschichte ou "história do efeito" (ou também Rezeptionsgeschichte, ou seja, "história da recepção" de um texto) que verifica a extraordinária influência e irradiação exercida pela Bíblia sobre o imaginário e sobre a história cultura alta e popular.
Pensemos na figura de Jó, que, depois de ter se tornado durante séculos uma imagem do Cristo paciente na arte sacra (por exemplo, a Meditazione sulla Passione ou o Compianto sul Cristo Morto de Carpaccio), transforma-se em um sinal pessoal na Repetição de Kierkegaard: em Jó, o filósofo dinamarquês lê a sua experiência rompida de amor e a tentativa de recuperá-la do passado por obra de Deus.
Escrevia Kierkegaard: "Eu não leio Jó com os olhos como se lê outro livro, mas o ponho no coração... Cada palavra sua é alimento, veste e bálsamo para minha pobre alma". E, ficando no mesmo filósofo, pensemos no sacrifício de Isaac (cf. Gn 22), assim como é lido por ele em Temor e Tremor: o terrível e silencioso caminho de três dias enfrentado por Abraão até a montanha da prova se torna o paradigma de todo itinerário de fé, marcado pela luz e pelas trevas, em que o crente deve chegar até o despojamento total de todos os apoios humanos, incluindo os afetos e as relações fundamentais.
O exegeta Gerhard von Rad, em uma obra intitulada O Sacrifício de Isaac, reuniria em torno do texto bíblico, além das de Kierkegaard, as interpretações atualizadas de Lutero, Rembrandt e Kolakowski, mas a tradição judaica na 'aqedah, isto é, na "ligadura" sacrificial de Isaac sobre o altar do Monte Moriá, já tinha visto o mistério do sofrimento do povo judeu e havia se interrogado sobre o silêncio de Deus.
Poderíamos continuar longamente na documentação desse tipo de releitura que domina na arte sacra, atenta a reconduzir eventos evangélicos ao "hoje" da Igreja. A arte e as várias expressões culturais podem se revelar repetidamente animadas pelo imaginário e pela ideologia bíblica.
Ao mesmo tempo, a tradição cultural se torna chave de interpretação – ora liberta, ora corrigida, ora desviada – da própria Escritura, tanto que um teólogo Marie-Dominique Chenu confessava: "Se eu tivesse que refazer essa obra, eu daria uma atenção muito maior à história das artes, tanto literárias quanto plásticas, porque elas não são apenas ilustrações estéticas, mas também verdadeiros lugares teológicos".
Tudo isso também se justifica pelo fato de que a Bíblia, mesmo sendo um texto teológico na sua finalidade última, também é uma obra literária, dotada de uma extraordinária força expressiva. Ela se manifesta em formas múltiplas, mas tem sobretudo um modo privilegiado de formulação justamente no símbolo.
Thomas S. Eliot falava dos Salmos como de um "jardim de símbolos", mas essa definição pode ser estendida a muitos escritos bíblicos. Com a sua riqueza simbólica, a Bíblia foi, portanto, "o grande código" da cultura e do imaginário popular, mas também foi a apresentação de uma fé que une em si mesma transcendência e imanência. A arte tentou captar a "carnalidade", isto é, a historicidade dessa revelação, ora exaltando-a, ora transformando-a, mas também soube quase sempre preservar a sua dimensão de sinal, de mistério, de infinito e de eterno.
É isso que pode ser ilustrado, no fim, por um gênero particular da arte oriental cristã, o do ícone, assim como era apresentado por Pavel Florensky: "O ouro bárbaro e pesado dos ícones, em si fútil à luz do dia, se anima com a luz tremulante de uma lâmpada ou de uma vela em uma igreja, fazendo pressentir outras luzes não terrestres, que enchem o espaço celeste".
Arte e fé, nesse sentido, se encontram. As figuras do ícone e os seus fundos dourados são terrenos, mas reverberam o divino e nos inserem em uma experiência paradisíaca.