19 Setembro 2019
Muitos ficarão surpresos com o título antropomórfico deste livro, “La schiena di Dio” [As costas de Deus]. As aspas indicam que estamos na presença de uma citação. É preciso chegar à página 313 para identificá-la: trata-se de uma passagem dos famosos “Contos dos Hassidim”, que Martin Buber recolheu e publicou em 1950, bebendo do poço borbulhante espiritual-narrativo da tradição judaica da Europa Central.
O comentário é do cardeal italiano Gianfranco Ravasi, prefeito do Pontifício Conselho para a Cultura, em artigo publicado em Il Sole 24 Ore, 15-09-2019. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
Esse pensador vienense, abrigado em Jerusalém para se salvar do nazismo, escrevia: “Todas as coisas contraditórias e distorcidas que os seres humanos sentem são chamadas de costas de Deus. A sua face, em vez disso, onde tudo é harmonia, nenhum ser humano pode ver”.
Buber, que, com Rosenzweig, havia sido o autor de uma sugestiva versão alemã da Bíblia, nas entrelinhas dessa imagem, entrevia uma emocionante experiência de Moisés, desejoso de ver face a face aquele Deus que lhe havia jogado sobre as costas o peso de arrastar um povo rebelde rumo à terra prometida da liberdade. A resposta divina havia sido glacial: “Tu não poderás ver o meu rosto, porque ninguém pode vê-lo e continuar com vida”. Mas ele havia lhe reservado uma concessão: “Eu te colocarei na fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão, e me verás pelas costas. Minha face, porém, tu não poderás ver” (Êxodo 33,20-23).
No hebraico original, o antropomorfismo é muito mais pesado: Deus oferece à vista de Moisés ‘aharaj, o “meu traseiro”, um dado ousado que será reescrito por Lutero quando afirmaria que, no Cristo crucificado, humilhado ao extremo a ponto de “encarnar-se” ao nível mais baixo da humanidade mortal, estão expostos os “posteriora Dei”.
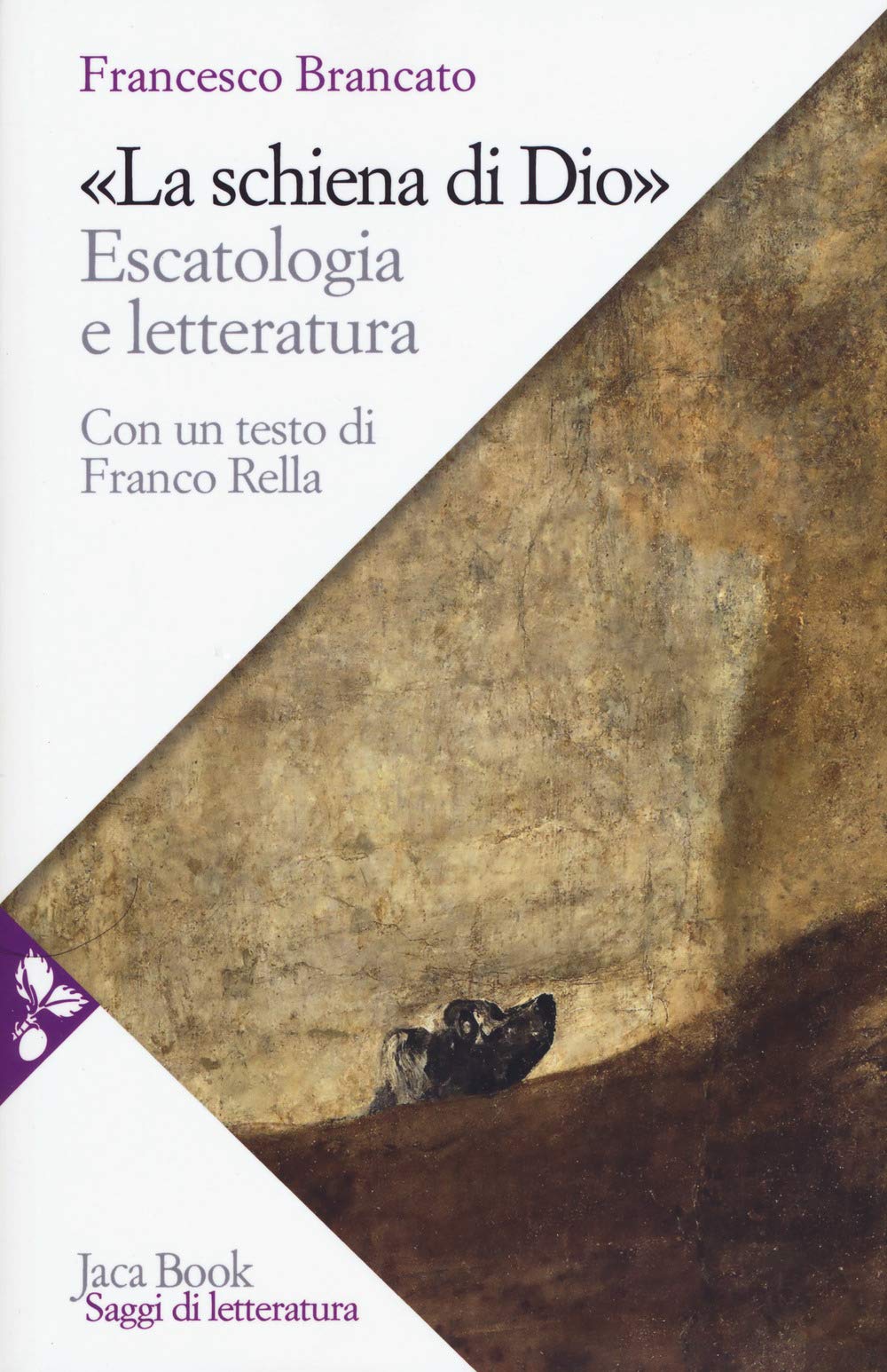
“As costas de Deus”, em tradução livre, de Francesco Brancato (Foto: Divulgação)
Ora, estritamente falando, o ensaio imponente que o teólogo Francesco Brancato, professor em Catania, elaborou, coloca-se, sim, diante das “costas de Deus”, que trazem tatuados todo o nosso limite, a caducidade, as contradições, a morte. Mas o anseio final é o mesmo de Moisés, o de intuir – ainda que em um fulgor – o rosto luminoso do divino, ou seja, a transcendência, o eterno e o infinito, a “outra face da vida em relação àquela dirigida para nós”, para usar uma conhecida representação da morte cunhada por Rilke.
É difícil, senão impossível, traçar o mapa desse livro teológico-literário, de tão imensa que é a multidão dos convocados para a cena, na tentativa de lançar um olhar para o abismo da escuridão da morte e do morrer, mas também de fixar os olhos naquele zênite supremo de luz sem ser cegado por ele.
Em termos teológicos, é posta sobre a mesa a questão escatológica, ou seja, o Além e o Outro em relação ao presente, ao fluxo do tempo e, sobretudo, àquela fronteira exorcizada, mas inexorável, a morte. Brancato é um teólogo que gosta das interseções: ele já fez isso cruzando a teologia com a ciência, com a arte, com a filosofia e, agora, com a literatura.
Na sua bibliografia, muito densa, a interrogação escatológica frequentemente aflora, também sob a locução eclesial típica de “Novíssimos”. Ora, sem abandonar as vestes de teólogo, ele também se envolve com as da cultura contemporânea que lhe permitem delinear um retrato antropológico inicial sobre “o homem e o seu destino”.
Mas o cerne da sua pesquisa pulsa plenamente quando ele se agarra às “costas de Deus”, lidando com o tema principal da morte e do morrer, paradoxal por ser ao mesmo tempo o mais estudado, mas também o mais desconhecido. Como se dizia, o equipamento que Brancato usa – além do teológico – é precisamente o da literatura, interpelando explicitamente cerca de 20 escritores, enquanto, no palimpsesto do seu texto, entreveem-se dezenas e dezenas de outros autores e personagens.
A sua página se torna, assim, uma incrustação de citações ou de evocações que envolvem figuras esperadas: sobre essa temática, como não interpelar Dostoiévski ou Tolstói, Mann ou Pirandello, Leopardi ou Bernanos?
Mas eis que, surpreendentemente, aparece um Don DeLillo verdadeiramente original na sua “multidão de perguntas”, não necessariamente desprovidas de resposta (pense-se no "Ponto Ômega"), apesar do medo em vão exorcizado que a morte gera (e aqui é significativa a referência a "Zero K"). Igualmente inesperado, embora importante, é Philip Roth com o seu “O animal agonizante”, tão “corporal” no seu relato de uma agonia que devasta o físico robusto, vital e sensual do protagonista.
Na ribalta, eis que aparecem também outros dois judeus de olhar afiado sobre o despedaçamento da vida: de um lado, Yoram Kaniuk com o seu dramático “Post mortem”, em que nos deparamos com o curioso palíndromo hebraico semanticamente dissonante m-t, “morto”, t-m, “puro, inocente”; e, por outro lado, Yehoshua das “Cinco estações de uma longa doença”, que chega ao “inevitável fim” da paciente assistida pelo marido enfermeiro (mas agora seria preciso acrescentar o recente e impressionante “Tunnel”).
É óbvio que o ponto de partida da escatologia, isto é, a morte, é o mais repleto, até porque é o horizonte que nos envolve, nos perturba e, no fim, nos domina. Não é à toa que dois terços do livro se encontram sob essa “luz tenebrosa”, para usar um oxímoro do livro de Jó (10,22).
E depois? Não é, talvez, esse o anseio do saber do teólogo e do escritor? De acordo com a metáfora básica, seria a tentativa de ver o “rosto” de Deus que, na verdade, não é totalmente proibido, como à primeira vista aparecia na passagem bíblica citada acima.
De fato, poucas linhas antes – sem temer a contradição – o mesmo autor sagrado afirmava: “O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com o amigo” (Êxodo 33,11). Aqui somos, então, puxados diretamente para aqueles que antigamente se chamavam de “Novíssimos”, isto é, o juízo, o inferno e o céu. A sobriedade aqui é uma obrigação, assim como saber “guardar castamente a fronteira” do mistério, para usar uma expressão de Schelling.
Porém, a literatura, assim como a teologia, tentou repetidamente apontar o seu farol também para dentro dessas esferas, especialmente naquela esfera infernal escura, mais do que naquela esfera solar paradisíaca.
Nesta última, os teólogos se encontravam mais à vontade: por exemplo, o jesuíta alemão Jeremias Drexel, em Lyon, em 1609, havia sido capaz de preencher nada menos do que 640 páginas para pintar o seu “Tableau des joyes du paradis”, a ponto de dar água (celestial) na boca até do pecador mais renitente.
Na realidade, Brancato descobre os retratos literários mais intensos e extensos no inferno: do “desesperado” do "Doutor Fausto" de Mann ou dos romances de Bernanos ao “impessoal” da incomunicabilidade ou do amor que morre de Kafka ou Dostoiévski, assim como é impressionante a paisagem desértica de DeLillo, sobre a qual se assoma um sol extinto, para remeter a Cormac McCarthy (o pensamento se dirige a “Outer Dark”).
Seria possível seguir em frente por muito tempo perseguindo os panoramas teológicos-literários abertos por Brancato, que revela uma insaciável capacidade de leitura, navegando no mar da cultura contemporânea. O seu livro pode ser lido quase como um conto “infinito”; considerando-se também o tema, os destinatários podem ser todos os leitores, crentes ou não: o aval final – como sempre, límpido e afiado – de Franco Rella confirma isso.
Mas nós ressaltamos que esse ensaio é necessário particularmente para os teólogos, porque, como observou um estudioso da literatura que também é teólogo, Marco Ballarini, é deficitária uma teologia que ignora arte e poesia e, no fim, é incapaz não só de diálogo com a cultura contemporânea, mas também de criar “uma gramática, sintaxe e retórica do infinito”.
- Francesco Brancato. “La schiena di Dio”. Escatologia e letteratura. Milão: Jaca Book, 330 páginas.
Leia mais
- Morte, aquele ''confim'' sempre aberto. Artigo de Gianfranco Ravasi
- Tempo e eternidade: destinados a um “bom fim”. Artigo de Gianfranco Ravasi
- A teologia desenrola os Rolos. Artigo de Gianfranco Ravasi
- Centenário teológico. Artigo de Gianfranco Ravasi
- O Vaticano II e a Escatologia Cristã: Ensaio a partir de leitura teológico-pastoral da Gaudium et Spes. Artigo de Afonso Murad. Cadernos Teologia Pública Nº 100
- Papa emérito: o difícil equilíbrio entre história e escatologia
- "Morrer é penetrar no coração do universo onde todas as teias de relação encontram o seu nó de origem e de sustentação". Entrevista especial com Leonardo Boff
- Ressurreição é uma revolução na evolução. Entrevista especial com Leonardo Boff




