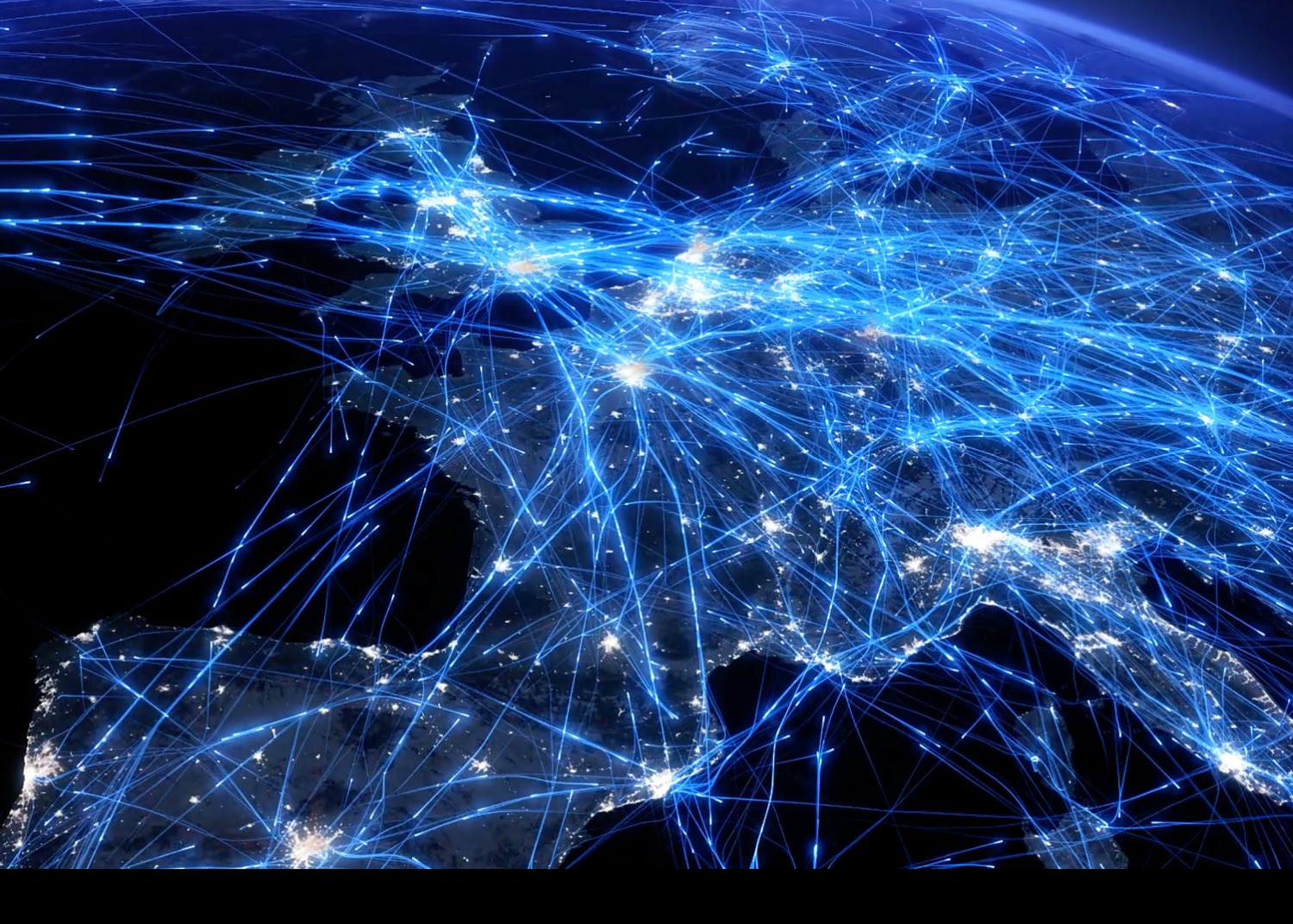10 Setembro 2019
Celulares e redes sociais acompanham todos os dias milhares de milhûçes de pessoas, que tiveram suas vidas mudadas. Empresas e cientistas trabalham para isso com tûˋcnicas sofisticadas que exploram as caracterûÙsticas da mente, mas, nos û¤ltimos anos, hûÀ certa reaûÏûÈo social a esta tecnificaûÏûÈo. Alguns pioneiros responsûÀveis por essas mudanûÏas se perguntam, hoje, se seu trabalho teve efeitos tûÈo positivos como acreditavam.
A reportagem ûˋ de Fû´lix Badia, publicada por Magazine, 08-09-2019. A traduûÏûÈo ûˋ do Cepat.
Quando, em 2009, Chris Wetherell desenvolveu o botûÈo do retuite, pensou que, com ele, o Twitter poderia se tornar uma ferramenta û¤til para que comunidades pouco representadas na internet e nas entûÈo jovens redes sociais tivessem mais projeûÏûÈo pû¤blica. GraûÏas aos retuites, uma opiniûÈo ou informaûÏûÈo relevante poderia se tornar de forma instantûÂnea uma reaûÏûÈo em cadeia, que chegaria a milhûçes de pessoas, sem hierarquias. Mas, dez anos depois, o Twitter mostrou o bom, mas tambûˋm o mau e o pior da natureza humana. Trolls ã humanos ou nûÈo -, haters e outros tipos tû°xicos criaram reaûÏûçes em cadeia, sim, mas de opiniûçes totalitûÀrias, mentiras, û°dio e insultos. O botûÈo do retuite teve muito a ver. Foi ãcomo oferecer uma arma carregada a uma crianûÏa de quatro anosã, admitia Wetherell, ao Buzzfeed, em inûÙcios do verûÈo.
O caso de Wetherell poderia ser sû° uma anedota, se nûÈo fosse porque nos û¤ltimos dois anos, no setor tecnolû°gico, surgiram testemunhos autocrûÙticos ã ou caso prefiram, arrependidos ã de desenvolvedores, engenheiros e empresûÀrios, que elevam a categoria. Seu argumento ûˋ que a combinaûÏûÈo de redes sociais, celulares e aplicativos estûÀ influenciando muito nos comportamentos das pessoas, sem que estas percebam, porque seus programadores recorrem û s fontes mais primûÀrias da mente humana e, sobretudo, û s suas fragilidades. ãNossas mentes podem ser sequestradasã, afirma Justin Rosenstein, um ex-engenheiro do Facebook.
Rosenstein, hoje executivo de companhias tecnolû°gicas, tem em sua folha de serviûÏos ser o pai do cûˋlebre likeô do Facebook, a pedra angular sobre a qual foram edificadas as redes sociais e que seu criador qualifica hoje como ãuma vibrada de pseudoprazerã. O autor de uma fotografia ou de um comentûÀrio no Facebook (ou no Twitter, Instagram ou qualquer rede social) reage a cada likeô com uma descarga de dopamina, um neurotransmissor relacionado ao prazer ou a motivaûÏûÈo. Cada um desses likesô provoca um pequeno lampejo agradûÀvel em nosso cûˋrebro, que ûˋ difûÙcil resistir, de modo que para muita gente se torna a principal motivaûÏûÈo para continuar postando conteû¤do nestas redes. Esse mecanismo ûˋ explorado a fundo pelas empresas do Vale do SilûÙcio.
Para Sean Parker, presidente do Facebook em suas origens e um de seus primeiros investidores, esta engrenagem mais que uma caracterûÙstica do cûˋrebro ûˋ, na realidade, uma fragilidade. Parker, que, por certo, tornou-se bilionûÀrio graûÏas ao investimento na maior das redes sociais, criticou publicamente o Facebook, porque, explica, seus fundadores sabiam que estavam criando algo viciante. ãO processo que conduziu û construûÏûÈo destes aplicativos era: ãComo podemos consumir o mûÀximo possûÙvel de seu tempo e de sua atenûÏûÈo consciente?ã. Isso quer dizer que precisamos te dar uma pequena dose de dopamina de vez em quando, porque alguûˋm gostou ou comentou uma foto sua ou a postou seja lûÀ o que forã. Isso equivalia a explorar ãuma vulnerabilidade na psicologia humanaã. ãNûÈo sei se [entûÈo] realmente entendia as consequûˆnciasã de tudo aquilo, mas esta rede ãmuda literalmente nossa relaûÏûÈo com a sociedade, com cada um. Sû° Deus sabe o que estûÀ fazendo com os cûˋrebros de nossos filhosã, refletia.
Por isso, tanto ele como o prû°prio Rosenstein se distanciaram dela. Este û¤ltimo decidiu limitar seu uso das redes sociais. Ele mesmo explicava ao jornal The Guardian, hûÀ algum tempo, que alûˋm de limitar seu uso do Facebook, instruiu a um assistente para que lhe administrasse um sistema de controle parental, em um telefone recûˋm-adquirido, que impedisse a instalaûÏûÈo de alguns aplicativos. Outra integrante da mesma equipe na empresa de Mark Zuckerberg, Leah Pearlman, que hoje desenvolve sua atividade em um campo muito distante como a ilustraûÏûÈo, utiliza filtros em seu computador que evitam que utilize esta rede social e delegou para outras pessoas a gestûÈo diûÀria de sua conta.
Outro que tornou possûÙvel aquele gigante tecnolû°gico, em seus inûÙcios, foi o investidor Robert McNamee, que hoje renega as prûÀticas dos gigantes da internet. McNamee publicou, no inûÙcio do ano, um livro-mûÙssil contra seu antigo sû°cio Zuckerberg: Zucked. Waking up to the Facebook Catastropheô (Zucked, despertando da catûÀstrofe do Facebook), no qual acusa a rede de ser uma mistura ãde capitalismo desregulamentado, tecnologia viciante e valores autoritûÀriosã. McNamee acusa empresas como o prû°prio Facebook, Google e Amazon de gerarem um coquetel de notificaûÏûçes constantes e tûˋcnicas de propaganda para explorar o vûÙcio dos usuûÀrios e estûÀ entre os que propuseram regulamentar suas atividades, assim como acontece com o tabaco e o ûÀlcool.
O que os programadores das redes sociais, aplicativos e videogames buscam? Basicamente, captar a atenûÏûÈo dos usuûÀrios e mantûˆ-los engajados durante o mûÀximo de tempo possûÙvel. û a economia da atenûÏûÈo, conceito no qual alguns dos modelos de negû°cio mais exitosos na rede se baseiam. A ideia ûˋ oferecer ao usuûÀrio um serviûÏo gratuito, mas que perceba como muito û¤til e que lhe mantenha conectado, quanto mais melhor. Em troca, o usuûÀrio ficarûÀ exposto de forma intensiva a anû¤ncios. û o modelo, por exemplo, do Facebook, empresa para a qual a publicidade representou 98% dos ingressos no segundo trimestre deste ano. O modelo seria perfeito se os dias tivessem horas infinitas, mas o tempo dos humanos ûˋ limitado.
O cerne da questûÈo ûˋ, pois, como agir com esse bem escasso, e como guiar o comportamento do usuûÀrio para que o tempo que passar conectado seja ainda maior. Para isso, as empresas tecnolû°gicas recorrem a tûˋcnicas baseadas nos trabalhos de Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). Este psicû°logo comportamental acreditava pouco no livre-arbûÙtrio e defendia, ao contrûÀrio, que o comportamento do indivûÙduo responde sobretudo a fatores ambientais. A adequada modificaûÏûÈo desses fatores pode mudar tambûˋm o comportamento.
Nos anos 1930, fechou em uma caixa (a tristemente cûˋlebre caixa de Skinner) um rato faminto. Em uma das paredes, uma alavanca permitia cair alimento e o rato logo viu que toda vez que executava esta aûÏûÈo, recebia a recompensa. O cientista conseguiu modelar a conduta do indivûÙduo atravûˋs da aprendizagem, e uma vez compreendido isto ã no fundo, era a mesma coisa se era o caso de um rato ou de um humano ã, caso fosse projetada a caixa adequada, seria possûÙvel induzir, dentro de alguns limites, o comportamento desejado.
Em fins dos anos 1990, outro psicû°logo, BJ Fogg, levou esta tese um passo alûˋm. A caixa nûÈo tinha motivo para ser fûÙsica, mas poderia ser um computador ou um celular. Mais uma vez, se fossem introduzidos os estûÙmulos adequados, seria possûÙvel guiar a conduta do usuûÀrio. Desse modo, nasceu a captologia, que posteriormente deu lugar a outra tûˋcnica, tambûˋm criada por Fogg, chamada de desenho do comportamento, cujo objetivo ûˋ aplicar esses conhecimentos aos negû°cios. Chegados a este ponto, talvez seja necessûÀrio destacar uma obviedade: efetivamente, vocûˆ carrega no bolso, todos os dias, a caixa de Skinner, ainda que sob o nome de telefone inteligente.
Fogg centrou grande parte de suas pesquisas em como conseguir fazer com que a interface de aplicativos, videogames, celulares, computadores e webs condicione a atitude do usuûÀrio final e seus ensinamentos se estenderam e se desenvolveram por todo o setor tecnolû°gico. As pûÀginas webs que tentam nos prender para que compremos, as mensagens que reivindicam uma resposta urgente, os aplicativos que concentram nossa atenûÏûÈo... tudo isso se deve muito a este cientista, que no Vale do SilûÙcio ûˋ conhecido como o ãcriador de milionûÀriosã. No entanto, em certa ocasiûÈo, ele demonstrou sua preocupaûÏûÈo em relaûÏûÈo û repercussûÈo ûˋtica de seus trabalhos. ãVejo alguns de meus antigos estudantes e me pergunto se estûÈo tentando realmente tornar o mundo melhor ou sû° fazer dinheiroã, explicava a The Economist.
Os recursos e tûˋcnicas utilizados sûÈo tûÈo numerosos e estûÈo tûÈo disseminados que quase ûˋ possûÙvel dizer que passam desapercebidos. Dos vûÙdeos que comeûÏam automaticamente poucos segundos apû°s ter terminado o anterior, atûˋ os likesô de uma foto no Facebook. Do botûÈo de atualizaûÏûÈo do Twitter ou Instagram (o cûˋlebre movimento do polegar, cujo criador, Loren Britcher, tambûˋm se tornou um dos arrependidos), atûˋ o fato de que os sistemas de mensagens como WhatsApp estejam programados por padrûÈo a interromper outras atividades do usuûÀrio... Tudo ûˋ cuidadosamente pensado para captar nossa atenûÏûÈo.
Tristan Harris ûˋ um dos mais conhecidos crûÙticos a estas prûÀticas, e suas apariûÏûçes pû¤blicas, conferûˆncias e artigos sûÈo muito seguidos. ãImaginem uma sala onde hûÀ uma centena de pessoas encurvadas sobre computadores que mostram grûÀficos. Uma sala de controle. Desta sala ûˋ possûÙvel controlar os sentimentos, pensamentos e prioridades de 2 bilhûçes de pessoas em todo o mundo. NûÈo ûˋ ficûÏûÈo cientûÙfica... Eu costumava estar em uma destas salasã, afirma no inûÙcio de uma de suas palestras no TED este antigo chefe de produto e desenvolvedor ûˋtico no Google. Antes, Harris tinha sido aluno de Fogg.
Hoje, dirige o Centro para a Tecnologia Humana, uma organizaûÏûÈo sem fins lucrativos que tem como objetivo sensibilizar a populaûÏûÈo sobre o mau uso destas tûˋcnicas e pressionar as grandes empresas para que moderem sua utilizaûÏûÈo. Harris centra suas crûÙticas ao fato de que estas empresas dedicam seus esforûÏos para condicionar a conduta dos usuûÀrios, para que nûÈo possam se desconectar, e que isto tem consequûˆncias diretas sobre a saû¤de, porque se traduz em menos concentraûÏûÈo, estresse e tendûˆncias depressivas. Em sua opiniûÈo, por exemplo, as constantes notificaûÏûçes que reivindicam nossa atenûÏûÈo (algumas û¤teis, outras nûÈo) tornam nosso celular uma mûÀquina caûÏa-nûÙquel de bolso.
Todas estas crûÙticas encontraram nos paûÙses anglo-saxûçes uma crescente repercussûÈo na opiniûÈo pû¤blica, reforûÏada pelo fato de que muitos dos engenheiros do Vale do SilûÙcio levam seus filhos para escolas onde sua exposiûÏûÈo û tecnologia ûˋ limitada ou atûˋ mesmo nula. O prû°prio Steve Jobs, grande ûÙcone dos empreendedores tecnolû°gicos, nûÈo deixou seus filhos utilizar o iPad.
Neste contexto, surgem os artigos e lanûÏamentos editoriais que defendem a necessidade de se empreender uma desintoxicaûÏûÈo. A prû°pria ideia de desintoxicaûÏûÈo pode parecer exagerada, ainda que as 150 vezes que, em mûˋdia, se afirma que consultamos o celular todos os dias (e as duas horas diûÀrias de uso que mostra o contador de atividade do telefone do autor deste artigo), apontam que a expressûÈo nûÈo ûˋ totalmente descabida.
Um dos maiores ûˆxitos deste mesmo ano ûˋ o livro de Cal Newport, Digital Minimalism. Choosing a Focused Life in a Noisy Worldô (Minimalismo digital, escolhendo uma vida focada em um mundo ruidoso). Nele, este professor de computaûÏûÈo da Universidade de Georgetown propûçe a seus leitores que repensem a relaûÏûÈo com as redes sociais e os celulares, com um plano de trinta dias. û margem dos detalhes, o livro de Newport, e muitos outros como o seu, revelam uma crescente preocupaûÏûÈo na opiniûÈo pû¤blica em relaûÏûÈo û sensaûÏûÈo de perda de liberdade e de maior estresse que as tecnologias estûÈo causando.
O fenûÇmeno nûÈo ûˋ exclusivo dos Estados Unidos. Na Espanha, tambûˋm foram publicados livros de notûÀvel repercussûÈo, como El enemigo conoce el sistemaô (O inimigo conhece o sistema), de Marta Peiranoô (Debate), que incidem na influûˆncia destas tecnologias em seus usuûÀrios e as implicaûÏûçes econûÇmicas, polûÙticas e sociais.
Quais sûÈo as alternativas? Alguns especialistas reivindicam uma regulamentaûÏûÈo destas prûÀticas ou inclusive, como Robert McNamee, tratar as redes sociais e os celulares como o ûÀlcool e o tabaco. Outros, como Tristan Harris, acreditam que sûÈo as empresas que deveriam se autorregular e modificar suas tûˋcnicas. Parece que as companhias comeûÏaram a pensar mudanûÏas em sintonia com a segunda destas possibilidades. A Apple, por exemplo, jûÀ inclui em seu sistema operacional, hûÀ algum tempo, um sistema para conhecer exatamente o uso que ûˋ dado a seu iPhone e permite limitar o tempo que se destina a cada aplicativo. No Android tambûˋm ûˋ possûÙvel usar este tipo de tecnologia, porque o Google afirma que detectou entre seus usuûÀrios um interesse em utilizar menos o celular.
O Facebook destacou a necessidade de que seus usuûÀrios utilizem melhor seu tempo como motivo para algumas de suas mudanûÏas e o Instagram jûÀ oculta, em alguns paûÙses, o nû¤mero de likesô das fotografias, em uma nova polûÙtica que previsivelmente serûÀ ampliada e que tem o objetivo de diminuir a pressûÈo pelo reconhecimento social que o famoso coraûÏûÈo significa, sobretudo para os jovens. A dû¤vida, nûÈo obstante, ûˋ se estas mudanûÏas sûÈo cosmûˋticas, para interromper as crûÙticas antes que aumentem, ou respondem a uma reflexûÈo profunda dos grandes conglomerados tecnolû°gicos.
Leia mais
- O vale do SilûÙcio e o novo trabalho fantasma
- ãO Vale do SilûÙcio nûÈo ûˋ uma criaûÏûÈo mûÀgicaã. Entrevista com Ekaitz Cancela
- "A inteligûˆncia artificial ûˋ a religiûÈo do Vale do SilûÙcio". Entrevista com Markus Gabriel
- Trûˆs problemas que a extrema riqueza tem causado no Vale do SilûÙcio
- O modo como a China desafia o Vale do SilûÙcio
- Redes sociais elevam depressûÈo entre meninas adolescentes, diz pesquisa
- 'Redes sociais deixam sociedade mais vulnerûÀvel'
- ãAs redes sociais estûÈo dilacerando a sociedadeã, diz um ex-executivo do Facebook
- As redes sociais sûÈo o fim da moralidade moderna
- A enorme (e inadiûÀvel) tarefa de regular o capitalismo digital
- A silenciosa ditadura do algoritmo
- Inteligûˆncia artificial e tributaûÏûÈo: a que(m) os algoritmos devem servir?
- A bolha do Facebook e a astû¤cia do capitalismo
- Para subverter o ãcapitalismo de compartilhamentoã
- Zuckerberg, do Facebook, entra para a arena polûÙtica
- O Facebook comprou um problema?
- ãO Google sabe o que vocûˆ estava pensandoã, diz Assange
- ãO Google nos espiona e informa o Governo dos Estados Unidosã. Entrevista com Julian Assange
- Como o Google ganha dinheiro?
- Como descobrir tudo que o Google sabe de vocûˆ - e como apagar seu rastro
- O que o Google sabe de vocûˆ
- Google, Facebook... Amazon: regulaûÏûÈo ou concentraûÏûÈo monopolista
- Riscos e desafios da sociedade digital
- ãTeremos que integrar os robûÇs em nû°s mesmosã. Entrevista com Andrûˋs Ortega Klein
- RobûÇs estûÈo entre nû°s. Como viver num mundo sem empregos para todos?
- Amazon vai trocar gente por robûÇs nos EUA
- A inteligûˆncia continua sendo mais humana do que artificial
- Inteligûˆncia artificial e ûˋtica: um estado da arte. Artigo de Paolo Benanti
- "A inteligûˆncia artificial ûˋ a religiûÈo do Vale do SilûÙcio". Entrevista com Markus Gabriel
- RevoluûÏûÈo 4.0: ãNûÈo encontraremos na histû°ria momentos de forte correlaûÏûÈo com o que viveremosã. Entrevista especial com JoûÈo Roncati
- Futuro do mundo do trabalho. O necessûÀrio debate dentro da RevoluûÏûÈo 4.0
- Seremos lûÙderes ou escravos da Indû¤stria 4.0?