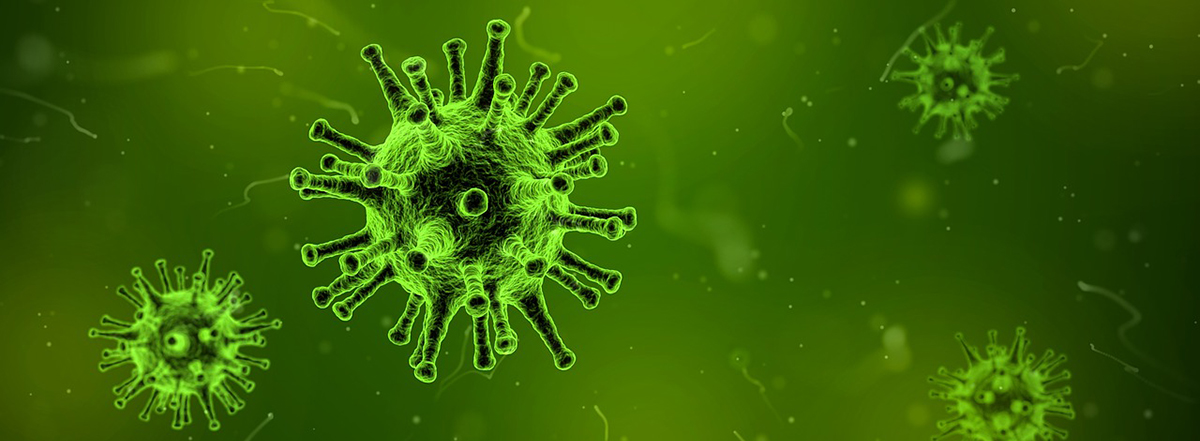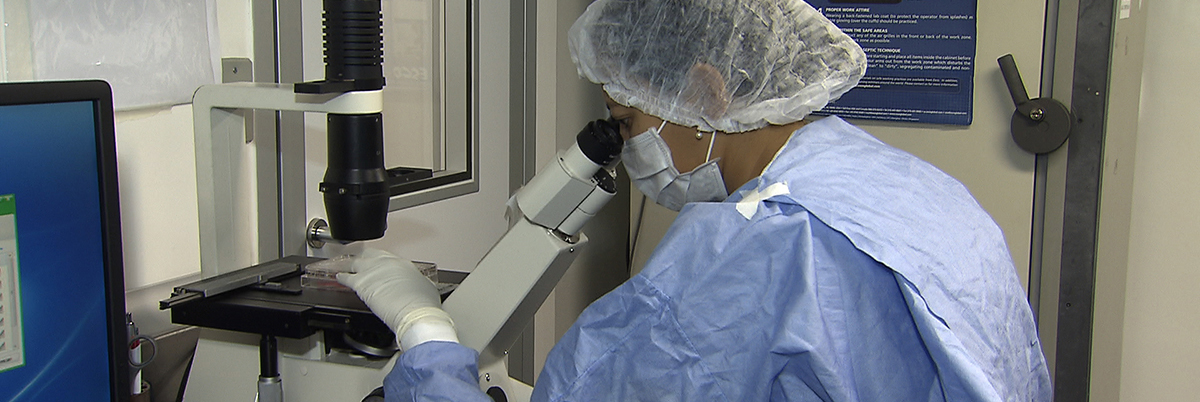04 Janeiro 2021
No confinamento, temos muito mais tempo à nossa disposição do que costumávamos ter. A velocidade não representa mais um valor; a pausa não é mais um luxo; e só quem possui o dom da lentidão pode se salvar com a ajuda da sabedoria, mantendo-se equidistante da paranoia das idas e vindas lotadas e da depressão da solidão sedentária.
A opinião é de Domenico De Masi, sociólogo italiano, autor entre outros de “Ócio criativo” (Ed. Sextante), em artigo publicado por Il Fatto Quotidiano, 27-12-2020. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
Eis o texto.
Se compararmos a dimensão do corpo humano e a velocidade máxima com que ele consegue correr, entende-se que o ser humano é um dos animais mais lentos do planeta. Talvez por isso ele sempre sonhou em construir próteses – da roda ao míssil – para compensar essa sua deficiência.
Mas a conquista da velocidade não foi acelerada uniformemente. A quase 2.000 anos de distância um do outro, se Júlio César e Napoleão quisessem abranger a distância entre Roma e Paris, levariam o mesmo tempo: algumas semanas a pé, uma semana de carruagem. A 200 anos de Napoleão, se nós também quiséssemos fazer o mesmo trajeto, bastariam apenas algumas poucas horas, mesmo sem gozar de privilégios imperiais.
Foi com o advento industrial que o desafio da velocidade acelerou as suas etapas: em 1903, o primeiro voo dos irmãos Wright durou 59 segundos em uma distância de 260 metros. Seis anos depois, em 1909, Filippo Tommaso Marinetti publicou o “Manifesto do Futurismo”: “Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova; a beleza da velocidade. Um carro de corrida com o seu capô adornado com grandes tubos semelhantes a serpentes de hálito explosivo... um automóvel que ruge, que parece correr sobre uma metralhadora, é mais belo do que a Vitória de Samotrácia”.
Precisamente naqueles anos, Tuiavii de Tiavea, um chefe indígena das Ilhas Samoa, teve a oportunidade de visitar a Europa e de escrever, com um afiado espírito de observação, uma espécie de reportagem antropológica sobre a tribo dos brancos por ele chamados de papalagui. “Acima de tudo – afirma – o papalagui ama aquilo que não se pode aferrar e que, no entanto, está sempre presente: o tempo. Os papalaguis afirmam que nunca têm tempo. Correm ao redor como que desesperados, como que possuídos pelo demônio e, por onde passam, levam a desgraça e o pavor por terem perdido o seu tempo. Essa loucura é um estado horrível, uma doença que não há médico que cure, que contagia muita gente e leva à ruína”.
Dezoito anos depois do “Manifesto Futurista”, em 1927, Lindbergh conseguiu voar de Nova York a Paris em 33 horas. Trinta e cinco anos depois, em 1961, Gagarin foi para o espaço, e, oito anos depois, em 1969, Armstrong pôs os pés na lua.
Epidemia vem de epídemos: o dia em que o deus chega à cidade. Antes que o coronavírus chegasse à cidade do homem, a cidade, atingida pela mosca da velocidade, produzia cada vez mais rápido para consumir e consumia cada vez mais rápido para produzir. Todo mundo estava correndo descontroladamente de um lado para o outro nos vastos espaços do planeta, pulando sem parar de um trem para um avião, de modo que o tempo nunca era suficiente.
Depois, de repente, o confinamento inverteu a situação: agora, blindados em casa, é o espaço que falta. Para ir de uma parede a outra da sala, de uma sala a outra do apartamento, bastam poucos segundos. Abolido o deslocamento entre a casa e o escritório, eliminadas as reuniões com amigos e clientes, o tempo se dilatou, e agora temos muito mais tempo à nossa disposição do que costumávamos ter. A velocidade não representa mais um valor; a pausa não é mais um luxo; e só quem possui o dom da lentidão pode se salvar com a ajuda da sabedoria, mantendo-se equidistante da paranoia das idas e vindas lotadas e da depressão da solidão sedentária.
No fim das contas, a lentidão e a velocidade são sensações relativas. No “Fedro”, Platão descreve Sócrates idoso e cansado que, em uma tarde ensolarada de verão, se refresca do calor: “Que belo lugar para fazer uma pausa! O plátano cobre tanto espaço quanto a sua altura. Em plena floração, o lugar não poderia ser mais perfumado. E o fascínio incomparável desta fonte que corre debaixo do plátano, o frescor das suas águas: basta o pé para me dizer. Mas o requinte mais refinado é este prado, com a doçura natural do seu declive que, quando nos deitamos nele, permite manter a cabeça perfeitamente à vontade”. No entanto, naqueles mesmos anos, Tucídides diz que os gregos “se afanam com dificuldades e perigos todos os dias das suas vidas, com pequenas oportunidades de desfrute”. Aristóteles despreza os comerciantes pela sua vida sem pausas.
Cinco séculos depois, é assim que Lucrécio descreve um rico romano: “Ele corre para sua casa de campo, chicoteando ansiosamente os cavalos, mesmo que a casa não esteja pegando fogo e ele não tenha que apagar as chamas. Então, assim que toca a soleira, ele instantaneamente boceja e cai em um sono profundo, buscando o esquecimento. Ou vai embora às pressas e com fúria, porque sente falta da cidade. Assim, cada um foge de si mesmo, daquele eu do qual, obviamente, não é possível fugir”.
Nenhum grego e nenhum romano da era clássica jamais viajou a uma velocidade superior à do cavalo ou trabalhou mais de cinco ou seis horas por dia. Nunca dois gregos ou dois romanos conseguiram ver e falar permanecendo a mais de 100 metros de distância um do outro. No entanto, nenhum filósofo depois de Platão ou depois de Sêneca jamais produziu reflexões tão vastas e profundas; nenhum artista depois de Sófocles ou depois de Fídias jamais criou obras-primas tão perfeitas; nenhum homem soube gerir o tempo e a vida de maneira tão equilibrada e com uma hierarquia de valores tão precisa: “A guerra visa à paz – diz Aristóteles –, o trabalho visa ao repouso, as coisas úteis visam às coisas belas”.
Na sociedade industrial, aceleramos tanto os nossos ritmos de vida a ponto de consideramos lentos aqueles guerreiros e aqueles comerciantes que pareciam frenéticos aos gregos. Mas, depois, chegou o coronavírus exterminador e nos prendeu a meses de súbita e inevitável lentidão. Nada de trens, nada de aviões.
A multidão dos atarefados, acostumados a cumprir as suas turbulentas atividades materiais, viram-se forçados a um lento e inusual seminário em tempo integral, propício para o exercício espiritual da lentidão, em que também se encontraram involuntariamente envolvidos as almas mais inexperientes e recalcitrantes à busca interior.
A reclusão e a calma impostas pelo vírus nos forçam a exercitar aquela reflexão que a convulsiva sociedade secularizada nos fizeram desaprender e que agora se revela aos nossos olhos e nos obriga a admitir a diferença entre necessário e supérfluo, consistente e fútil, adulto e pueril. Quanto mais o olhar se acalma, mais sentido ele capta nas coisas que vê e que, antes, às pressas, ficavam indiferentes. Assim, aquelas ideias, aqueles objetos finalmente dotados de sentido oferecem ao nosso pensamento mais espaço para relaxar, porque somente a lentidão é capaz de nos fazer captar e amar até mesmo as coisas mínimas, aquelas que os poetas encontram sem a necessidade de um confinamento: “Benditos sejam os instantes, e os milímetros, e as sombras das pequenas coisas”, invocava Fernando Pessoa.
Infelizmente, a lentidão, assim como o ócio, não é um assunto para principiantes. Requer vocação e treinamento. Mas é uma condição imprescindível para alimentar o espírito criativo, que, segundo o testemunho de Le Corbusier, “só se afirma onde reina a serenidade”.
Esta atual e inédita experiência de lentidão, cujo fim não se entrevê, talvez deva ser vivida como um exercício coletivo em vista do futuro próximo em que, confiando às máquinas todas as ações que requerem velocidade e precisão, finalmente restará aos humanos o tempo para saborear as alegrias da criatividade e da sensualidade, da política, da estética e da convivialidade.
Leia mais
- “Na solidão do confinamento, a meditação pode nos ajudar a nos encontrarmos.” Entrevista com Gianfranco Ravasi
- O mundo do trabalho no contexto da pandemia, onde estamos e para onde vamos
- Reativando o futuro com o filósofo Franco ‘Bifo’ Berardi
- Risco de morrer por coronavírus pode ser dez vezes maior nas regiões com os piores indicadores de qualidade de vida
- Coronavírus (Covid-19): Saída precoce do isolamento levaria a confinamentos mais longos, diz estudo
- O coronavírus nos obriga a reconsiderar a biodiversidade e seu papel protetor
- Tecnopolítica, racionalidade algorítmica e mundo como laboratório. Entrevista com Fernanda Bruno
- Um guia para compreender a quarta Revolução Industrial
- Quando o papa Francisco encontrou Jorge Luis Borges