07 Março 2019
Na sexta-feira, 1º de março, eu comecei a minha resenha do livro do padre jesuíta John O’Malley, intitulado “Vatican I: The Council and the Making of the Ultramontane Church” [Vaticano I: o Concílio e a construção da Igreja ultramontana], examinando aquilo a que a Igreja do século XIX estava reagindo. Isso abriu caminho para a apresentação de Joseph de Maistre, o leigo provocador de Saboia que se tornou o arauto do ultramontanismo, entre outros ideais reacionários.
O comentário é de Michael Sean Winters, publicado em National Catholic Reporter, 04-03-2019. A tradução é de Moisés Sbardelotto.

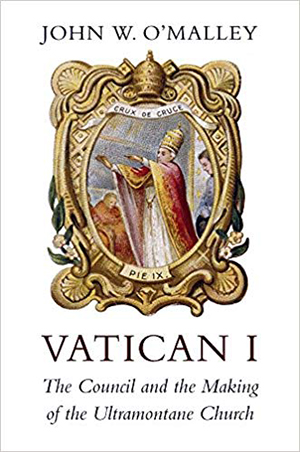
Vatican I: The Council and the Making of the
Ultramontane Church John W. O’Malley
Harvard University Press
Não quero revelar o coração do livro, mas apenas dizer que O’Malley oferece um tratamento cuidadoso e abrangente dos vários eventos e personalidades que moldaram o clamor que levaria à definição de infalibilidade papal no Concílio Vaticano I.
Em vez disso, quero destacar alguns desses eventos e movimentos que parecem ainda ser normativos para a Igreja que conhecemos hoje e alguns itens dos quais não havia tomado conhecimento anteriormente.
Na última categoria, e à luz das controvérsias que cercaram a nova tradução inglesa do missal, fiquei surpreso ao saber que foi somente em meados do século XIX que a Igreja da França adotou o Missal Romano. Anteriormente, havia ritos diferentes em toda a França. Eu não tinha pensado que a renovação litúrgica lançada na Abadia de Solesmes fazia parte do movimento ao ultramontanismo, mas O’Malley demonstra as conexões. Da mesma forma, ele observa que o Vaticano I foi o primeiro concílio ecumênico em que não havia nenhuma representação leiga. Em todos os concílios anteriores, os monarcas enviavam delegados para representá-los.
De Maistre era leigo, assim como muitos dos outros principais defensores do ultramontanismo, como William George Ward, que declarou: “Eu gostaria de uma nova bula papal todas as manhãs com o meu [jornal] Times no café da manhã”. Ward, e Henry Edward Manning, futuro cardeal-arcebispo de Westminster, também eram convertidos, assim como Félicité de Lammenais e Louis Veuillot, na França; Joseph Gorres, na Alemanha; e Juan Donoso Cortes, na Espanha, embora a maioria não tenha se convertido a partir de outra Igreja, assim como Manning, mas sim do indiferentismo. Todos, exceto De Lammenais e Manning, eram leigos.
Minha conclusão a partir disso? Às vezes, os convertidos trazem um olhar mais afiado para as questões, mas às vezes também podem ser excessivamente zelosos, de modo a desequilibrar a Igreja, convidando ao fanatismo. Seja o que for que os atraiu na Igreja, eles tendem a enfatizar isso demais. Há uma razão pela qual todos nós conhecemos a expressão proverbial “o zelo de um convertido”. O zelo não nos diz nada sobre a verdade ou a conveniência de um projeto ou ideia.
O’Malley passa bastante tempo discutindo o documento conciliar de que ninguém se lembra, Dei Filius, e por que ele foi importante na época. As ideias iluministas estavam desafiando as concepções centrais sobre o que importava e sobre o que constituía a verdade, sobre todo o Cogito cartesiano e seus detritos. Ele escreve:
“A Dei Filius foi uma proclamação da realidade do transcendente. Foi uma afirmação de uma realidade para além do visível e do material, de uma realidade para além da racionalmente demonstrável. Ao fazer isso, ela ensinou que, na pessoa humana, o material e o transcendente se encontravam e interagiam. Existe Alguém para além dos sentidos que, no entanto, pode ser conhecido por seres de carne e osso. Embora a constituição fosse tradicional, não era, por isso, insignificante. A situação exigia que a Igreja, se quisesse permanecer fiel a si mesma, reafirmasse essas crenças básicas.”
Quão diferente é o nosso tempo em que o problema é diferente: cada livraria de aeroporto está cheia de volumes sobre espiritualidade gnóstica, e milhões de pessoas se dizem espirituais, mas não religiosas!
O’Malley observa que o texto da Dei Filius se baseia em “argumentos abstratos e a-históricos” de um tipo que ainda vemos ser invocado por alguns, mas que não seriam ensinados em nenhuma universidade respeitável hoje em dia. Mesmo assim, a necessidade de afirmar uma realidade para além do nosso alcance é algo que nós, cristãos, nunca podemos perder de vista.
A comparação de O’Malley entre o documento com a Dei Verbum do Vaticano II na conclusão do livro é de vital importância para a compreensão do desenvolvimento da doutrina: não houve repúdio, apenas uma “reformulação” e uma “reconceitualização” das ideias em jogo. Infelizmente, ainda há entre nós alguns prelados – e sites! – que se apegam a “argumentos abstratos e a-históricos” e, consequentemente, são desnecessariamente alérgicos ao desenvolvimento da doutrina.
O livro de O’Malley, assim como o do falecido arcebispo John Quinn, que eu resenhei aqui [em inglês], reconhece que, embora a definição de infalibilidade papal se tornou o símbolo do triunfo do ultramontanismo, o mais importante para a vida subsequente da Igreja foi o ensinamento do Concílio sobre o primado papal. Essa afirmação da jurisdição papal em toda a Igreja era nova. Por exemplo, na maioria dos países, os papas tradicionalmente dependiam das autoridades civis ou religiosas locais para nomear bispos.
A ideia do primado de jurisdição papal, que o Papa Pio IX apoiava, combinada com a separação entre Igreja e Estado, à qual ele se opunha, deu a seus
sucessores um controle virtualmente absoluto sobre a nomeação de bispos, fortalecendo enormemente o ultramontanismo prático da Igreja até mesmo no nosso próprio tempo. De fato, a dependência de Roma serviu para enfraquecer ou ao menos infantilizar os bispos, fazendo-os olhar para Roma não como fonte de unidade, mas como fonte de tudo. Apenas o pensamento prudente e progressista dos papas São João XXIII e São Paulo VI permitiram que o Concílio Vaticano II desse nova vida à tradição conciliar mais antiga. Bênçãos sobre ambos.
Apesar do ultramontanismo, o Concílio Vaticano I foi um processo democrático, mesmo que Pio IX não tivesse medo de tornar seus desejos conhecidos. A minoria conseguiu defender os seus pontos, mesmo que não tenha conseguido persuadir seus colegas a se oporem à definição da infalibilidade. A penúltima votação sobre o dogma foi de 451 a favor, 62 a favor de emendas pendentes e 88 contra.
A oposição, então, se reuniu separadamente do Concílio e votou sobre se eles deveriam permanecer e registrar sua desaprovação na sessão pública final, que o papa presidiria, ou deixar a cidade inteiramente. Por uma votação de 36 a 25, eles decidiram ir embora, e apenas dois bispos votaram contra a definição na sessão formal final; um deles era o bispo Edward Fitzgerald, de Little Rock, Arkansas. Não obstante a definição do primado e da infalibilidade papal, o próprio Concílio preservou uma medida de sinodalidade.
Uma anedota foi especialmente apreciada. No fim dos anos 1980, lembro-me de ter lido uma biografia do bispo Augustin Verot, que era o bispo de Savannah no início do Concílio e bispo da Diocese de St. Augustine, na Flórida, no momento em que ele se renunciou, e me lembrei de que ele se opusera à definição da infalibilidade. Além disso, ele tinha uma personalidade muito pitoresca.
Eu não me lembrava do episódio que O’Malley relata: o cardeal irlandês Paul Cullen havia feito um discurso de apoio à infalibilidade e, em resposta, Verot “perguntou se os irlandeses acreditavam que o Papa Adriano IV era infalível quando entregou a Irlanda ao rei da Inglaterra”. Esplêndido.
Mas, infelizmente, há um erro em relação a outro membro da hierarquia norte-americana: na página 147, O’Malley se refere a “John Spalding, arcebispo de Baltimore”. Havia um bispo John Lancaster Spalding, mas ele era o bispo de Peoria, e só foi nomeado ao cargo seis anos após o encerramento do Concílio. Seu tio, Martin John Spalding, foi o arcebispo de Baltimore que participou do Concílio.
Na esteira do Concílio, havia o medo de um cisma, mas nenhum medo sério se materializou. Um dos membros mais recentes da minoria a aderir à definição foi o arcebispo Peter Richard Kenrick, de St. Louis – mas ele aderiu. Ignaz von Dollinger, o historiador da Igreja alemão que havia sido um dos líderes da oposição à definição nos círculos externos, acadêmicos e de imprensa, não pôde se reconciliar para aceitar a decisão e foi excomungado. Dollinger, no entanto, recusou-se a ser ordenado bispo na Igreja Vétero-Católica, que somou cerca de 45.000 membros na Alemanha, mas depois desmoronou.
Eu suspeito que, nos nossos dias, se, digamos, o cardeal Raymond Burke ou algum outro prelado em oposição ao Papa Francisco, quisesse provocar uma ruptura, haveria um resultado semelhante: alguns poucos valentes seguidores entrariam no cisma com eles, mas não muitos, e nem por muito tempo.
Como eu disse no início, esta resenha sequer aborda a maior parte desse livro, a explicação detalhada de O’Malley sobre os debates durante o próprio Concílio. Você tem que comprar o livro para obter essa rica reflexão, e você deve. Trata-se de um esplêndido livro que nos mostra como são relativamente recentes as raízes da nossa realidade eclesial ultramontana, e como, mesmo na atmosfera que produziu a doutrina da infalibilidade papal, os bispos não puderam, ou não quiseram, se livrar da tradição sinodal conciliar.
É uma ironia do nosso próprio tempo que tenhamos um papa empenhado em buscar a sinodalidade e alguns bispos que resistem a ela. No entanto, as ironias não conduzem a história eclesial, e serão necessários mais alguns papas empenhados com a colegialidade e a descentralização antes que a “reação à reação” substitua a “reforma da reforma”.
Leia mais
- A espiritualidade humanística do Vaticano II. Artigo de John W. O'Malley. Cadernos Teologia Pública nº 90.
- Vaticano I e os movimentos pré-conciliares que ameaçavam a Igreja
- Vaticano I, um concílio mais católico do que o papa?
- Francisco vive a mensagem do Concílio em palavras e ações. Artigo de John O'Malley
- Uma história de renúncias papais. Artigo de John W. O'Malley
- 'Sucessor terá desafio de resgatar prestígio do papado'. Entrevista com John O'Malley
- Dez formas para confundir os ensinamentos do Vaticano II. Artigo de John O'Malley
- Conclílio Vaticano II. "Ensinou-nos a viver de modo novo”. Entrevista com John W. O'Malley
- Com o Papa Francisco, há um novo dogma: a falibilidade papal
- Vaticano II, um novo “tempo axial” para a Igreja?
- Análise de Quinn sobre o Vaticano I e a infalibilidade é o seu presente final
- Tradicionalismo e conservadorismo católicos: as ideologias em jogo. Entrevista especial com Rodrigo Coppe Caldeira
- O Concílio de Trento acabou. Depois de cinco séculos




