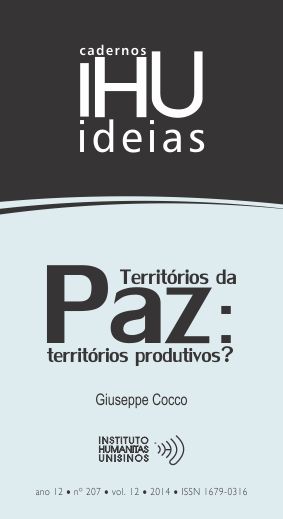22 Abril 2014
Quando um Estado não é um Estado? Qual o animal anômalo que criamos - esse conjunto que supostamente fala, representa e trabalha por todos nós que somos núcleos individuais que formam este todo? Qual é o nível possível de representação democrática, quando nem todos são aceitos como indivíduos de pleno direito? Como um Estado é de Direito se nem todos seus supostos cidadãos têm seus direitos garantidos?
 Vivemos em um não-Estado?
Vivemos em um não-Estado?
É com estes questionamentos que nos deparamos com a obra O Jardineiro Fiel de John le Carré (Editora Record, 2002). A história orbita em torno do diplomata britânico Justin Quayle, que vê sua vida se tornar um revés após o assassinato de sua esposa, Tessa, que estava desenvolvendo um trabalho assistencial de vigilância sobre a complexa indústria farmacêutica e suas práticas eticamente comprometidas no Quênia do Presidente Daniel Arap Moi. O nome do livro se deve ao fato de que Justin era um jardineiro amador entusiasta e utilizava isso como uma desculpa para não dividir as angústias e labutas de sua esposa ativista. Porém, após sua morte, Justin parte da suspeita de que o assassinato de sua esposa foi corporativo, encomendado por "ninguém" e premeditado. E a história, em si, mostra sua busca por pistas do trajeto de pesquisa de sua esposa, as descobertas que ela fez (e não compartilhou com ele) e as ameaças que ela recebia de "ninguém".
Nunca é "ninguém", alguém conhece alguém que conhece alguém, que tem um primo, que faz um contato. E assim, o anonimato se mantém intacto. A culpa é de "ninguém". De certa forma, os Estados, hoje, são a terra desses "ninguéns" invisíveis. O debate político atual, com suas bandeiras imaginárias, suas teorias da conspiração falaciosas, sua falta de informação e falta de educação básica (ao menos no sentido freiriano), não auxilia para uma dimensão real da condição humana e das reais necessidades políticas.
Estamos em crise. Crise da educação. Crise da família. Crise da saúde. Crise por causa de tanta corrupção. De tanto imposto. De tanto tudo... Essas "crises" alardeadas pelas "pessoas de bem" de plantão, cada uma delas representantes de sistemas dúbios e fragmentados, nada mais é do que um sintoma de que a "crise" não existe. Ao menos não a crise enquanto um desvio de rota que deve ser corrigido através de uma política estrutural. Nós somos crise. Não "a" crise. Não "uma" crise. Apenas crise, constituimo-nos como sujeitos líquidos apenas quando há crise. Nós somos crise. É mais fácil aprender a viver com ela e relativizá-la do que lutar contra ela. Exatamente como a corredeira de um rio.
Neste sentido, o Instituto Humanitas Unisinos - IHU vem publicando, nos últimos meses, alguns textos que podem ser elucidativos. Especialmente no que tange a questão de direitos e o Estado.
No texto de Giuseppe Cocco, o que está acontecendo na política de segurança é tido como uma mudança do paradigma. Contudo, ainda não se definiu qual será o próximo modelo, e muitos caminhos possíveis estão em disputa. Grosso modo, o regime discursivo que acompanha (e se alimenta com) a implementação das Unidades de Polícia Pacificadora - UPPs é o seguinte: havia “territórios” (favelas ou complexos de favelas) dominados por um “poder paralelo”, e a novidade estaria no fato de o Estado retomar (ou tomar) o controle, expulsando o comando do narcotráfico e (re)estabelecendo o monopólio do uso da força. O episódio da Vila Cruzeiro (Complexo do Alemão) é emblemático desse discurso: embora naquele momento não se tratasse de uma UPP, a “ocupação” se caracterizou pela mobilização maciça e massiva de forças (exército, marinha, polícias) e meios (helicópteros, tanques, blindados), bem como uma série impressionante de clichês midiáticos e políticos.
 Já o texto de Fábio Konder Comparato busca compreender como o regime político que se instalou no país após o Golpe de 1964 fundou-se na aliança das Forças Armadas com os latifundiários e os grandes empresários, nacionais e estrangeiros, e como esse consórcio político engendrou duas experiências pioneiras na América Latina: o terrorismo de Estado e o neoliberalismo capitalista. Grandes empresários não hesitaram em financiar a instalação de aparelhos de terror estatal, como a Operação Bandeirante (embrião do futuro DOI-CODI), ou ainda a Federação das Indústrias de São Paulo - FIESP, que convidou empresas a colaborar – enquanto a Ford e a Volkswagen forneciam automóveis, a Ultragás emprestava caminhões e a Supergel abastecia a carceragem militar com refeições congeladas. Entre outros, um dos setores em que a colaboração do empresariado com a corporação militar mais se destacou foi o das comunicações de massa, necessário para a difusão sistemática dos méritos do sistema capitalista.
Já o texto de Fábio Konder Comparato busca compreender como o regime político que se instalou no país após o Golpe de 1964 fundou-se na aliança das Forças Armadas com os latifundiários e os grandes empresários, nacionais e estrangeiros, e como esse consórcio político engendrou duas experiências pioneiras na América Latina: o terrorismo de Estado e o neoliberalismo capitalista. Grandes empresários não hesitaram em financiar a instalação de aparelhos de terror estatal, como a Operação Bandeirante (embrião do futuro DOI-CODI), ou ainda a Federação das Indústrias de São Paulo - FIESP, que convidou empresas a colaborar – enquanto a Ford e a Volkswagen forneciam automóveis, a Ultragás emprestava caminhões e a Supergel abastecia a carceragem militar com refeições congeladas. Entre outros, um dos setores em que a colaboração do empresariado com a corporação militar mais se destacou foi o das comunicações de massa, necessário para a difusão sistemática dos méritos do sistema capitalista.
 Em dois comentários sobre a Constituição Brasileira de 1988, encontramos os textos de Maria da Glória Gohn e de Roberto Romano. O primeiro estabelece que a Constituição, ao completar 25 anos, oferece-nos um momento bastante oportuno para se fazer um balanço e para avaliar esse período, e que isto requer um olhar não apenas para o texto concluído e seu desenrolar posterior, mas também para o processo que lhe deu origem.
Em dois comentários sobre a Constituição Brasileira de 1988, encontramos os textos de Maria da Glória Gohn e de Roberto Romano. O primeiro estabelece que a Constituição, ao completar 25 anos, oferece-nos um momento bastante oportuno para se fazer um balanço e para avaliar esse período, e que isto requer um olhar não apenas para o texto concluído e seu desenrolar posterior, mas também para o processo que lhe deu origem.
Já o texto 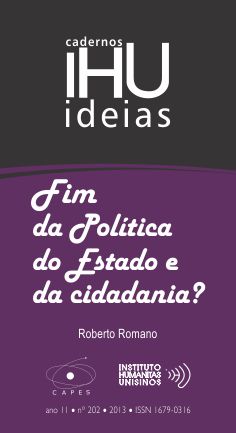 de Roberto Romano afirma que, hoje, o Estado não exerce com eficácia razoável os três monopólios que lhe deram nascimento. Boa parte dos poderes constituídos sucumbiram à política econômica da privatização das políticas e da ordem pública. Com tal suicídio jurídico, o que resta do setor público não tem o controle inconteste da força física. O monopólio da norma jurídica é quebrado a cada instante pelos setores financeiros e grandes empresas. Leis e normas são mudadas sempre que desagradam aqueles setores privados, que na verdade controlam as políticas públicas. Se nos dirigimos ao monopólio da taxação do excedente econômico, o desastre estatal é ainda maior. Fraudes bilionárias ficam impunes, a circulação de recursos ilegais é incomensurável, nada mostra que os Estados, sobretudo os hegemônicos, consigam recuperar o controle dos capitais gerados e distribuídos pelos mecanismos eletrônicos da lavagem de dinheiro.
de Roberto Romano afirma que, hoje, o Estado não exerce com eficácia razoável os três monopólios que lhe deram nascimento. Boa parte dos poderes constituídos sucumbiram à política econômica da privatização das políticas e da ordem pública. Com tal suicídio jurídico, o que resta do setor público não tem o controle inconteste da força física. O monopólio da norma jurídica é quebrado a cada instante pelos setores financeiros e grandes empresas. Leis e normas são mudadas sempre que desagradam aqueles setores privados, que na verdade controlam as políticas públicas. Se nos dirigimos ao monopólio da taxação do excedente econômico, o desastre estatal é ainda maior. Fraudes bilionárias ficam impunes, a circulação de recursos ilegais é incomensurável, nada mostra que os Estados, sobretudo os hegemônicos, consigam recuperar o controle dos capitais gerados e distribuídos pelos mecanismos eletrônicos da lavagem de dinheiro.
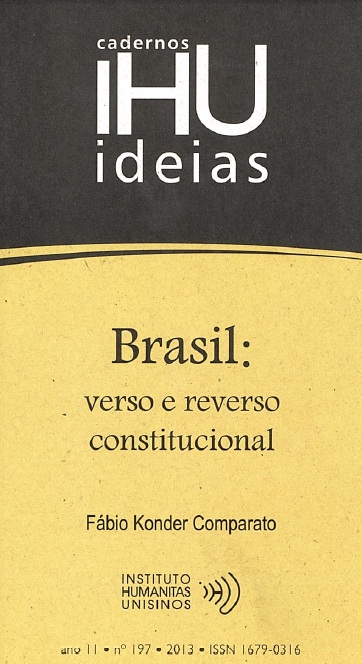 Ainda neste ensejo, encontramos outro texto de Fábio Konder Comparato, no qual ele afirma que, felizmente, a opinião pública hodierna começa aos poucos a se dar conta de que, no quadro desse engenhoso sistema, o que existe, de fato, é uma representação de natureza teatral: o povo, como mero soberano de opereta, só aparece para o beija-mão público durante as campanhas eleitorais. A Constituição de 1988 tem sido elogiada pelos aperfeiçoamentos trazidos ao sistema de representação política. Em meu modesto entender, porém, tais elogios não se justificam, (...) como todos sabem, mas quase ninguém tem coragem de reconhecer, o que se representa (e muito mal, aliás) na Câmara dos Deputados não é a unidade do povo brasileiro, mas a multiplicidade dos eleitorados estaduais, em sua maior parte dominados pelos Governadores e pelos coronéis locais. É indispensável, por conseguinte, instituir uma circunscrição eleitoral única para a eleição de Deputados Federais, circunscrição essa que seria dividida em distritos de número tanto quanto possível equivalente de eleitores, independentemente dos limites territoriais dos Estados.
Ainda neste ensejo, encontramos outro texto de Fábio Konder Comparato, no qual ele afirma que, felizmente, a opinião pública hodierna começa aos poucos a se dar conta de que, no quadro desse engenhoso sistema, o que existe, de fato, é uma representação de natureza teatral: o povo, como mero soberano de opereta, só aparece para o beija-mão público durante as campanhas eleitorais. A Constituição de 1988 tem sido elogiada pelos aperfeiçoamentos trazidos ao sistema de representação política. Em meu modesto entender, porém, tais elogios não se justificam, (...) como todos sabem, mas quase ninguém tem coragem de reconhecer, o que se representa (e muito mal, aliás) na Câmara dos Deputados não é a unidade do povo brasileiro, mas a multiplicidade dos eleitorados estaduais, em sua maior parte dominados pelos Governadores e pelos coronéis locais. É indispensável, por conseguinte, instituir uma circunscrição eleitoral única para a eleição de Deputados Federais, circunscrição essa que seria dividida em distritos de número tanto quanto possível equivalente de eleitores, independentemente dos limites territoriais dos Estados.
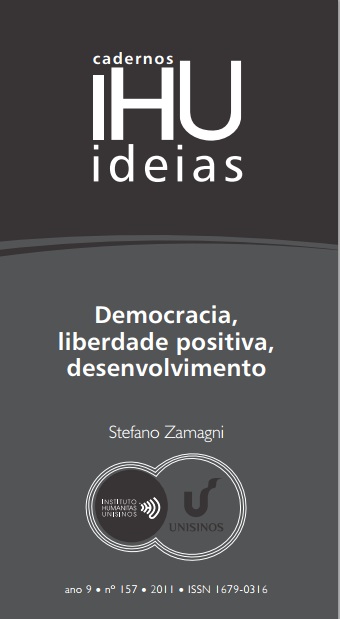 Ainda, Stefano Zamagni oferece uma queda deste assunto para a questão econômica. Dissertando sobre como o aumento da independência econômica faz com que os segmentos até mesmo relevantes da população podem ser negativamente influenciados por acontecimentos que se verificam em lugares até muito distantes. Junto às bem conhecidas “carestias” decorrentes da depressão, a realidade hodierna tem conhecido com tristeza “carestias provenientes do boom”. O fato é que a expansão do processo de globalização pode fazer com que a capacidade de um grupo social de aceder aos recursos dependa – frequentemente de modo crucial – daquilo que fazem outros grupos sociais, sem que estes últimos sejam chamados a responder de qualquer modo a isso. Por exemplo: o preço dos bens primários (dos quais depende o bem-estar de segmentos importantes de populações rurais) pode depender daquilo que acontece com os preços dos bens industriais, ou então, dos preços dos serviços high-tech.
Ainda, Stefano Zamagni oferece uma queda deste assunto para a questão econômica. Dissertando sobre como o aumento da independência econômica faz com que os segmentos até mesmo relevantes da população podem ser negativamente influenciados por acontecimentos que se verificam em lugares até muito distantes. Junto às bem conhecidas “carestias” decorrentes da depressão, a realidade hodierna tem conhecido com tristeza “carestias provenientes do boom”. O fato é que a expansão do processo de globalização pode fazer com que a capacidade de um grupo social de aceder aos recursos dependa – frequentemente de modo crucial – daquilo que fazem outros grupos sociais, sem que estes últimos sejam chamados a responder de qualquer modo a isso. Por exemplo: o preço dos bens primários (dos quais depende o bem-estar de segmentos importantes de populações rurais) pode depender daquilo que acontece com os preços dos bens industriais, ou então, dos preços dos serviços high-tech.
Ao fim, temos um alerta de Marcelo Dascal, em seu artigo Colonizando e Descolonizando Mentes: "Note que, na maioria dos casos, aqueles que praticam a ação colonizante não estão conscientes da natureza de sua ação ou dos danos epistêmicos e outras consequências dela. Muito pelo contrário, acreditam que estão ajudando o colonizado, proporcionando-lhes melhores crenças e padrões de ação que aperfeiçoam sua habilidade de lidar com êxito com o meio ambiente".
Estamos - assim como em qualquer outro momento da história humana - em um momento de jogos de poder por forças nem sempre tão bem definidas. Relações de poder se mostram peremptórias, especialmente quando colocadas sob as determinações biopolíticas do Estado e dos projetos de "desenvolvimento" (sic) do país.
Em O Jardineiro Fiel, vemos o abuso perpetrado em africanos pobres por representantes da indústria farmacêutica. No Brasil, vemos Claudias e Amarildos vítimas de violência estatal. O remédio testado no livro é enfaticamente afirmado como uma cura para o fim da Tuberculose. O "remédio" usado no Brasil é acreditado como a solução pela classe média. Em alguns casos, a ficção fala mais profundamente sobre a realidade do que outras formas de narrativas "reais". Cabe observar, para que não nos transformem em Tessas, Claudias e Amarildos.
por Caio Fernando Flores Coelho