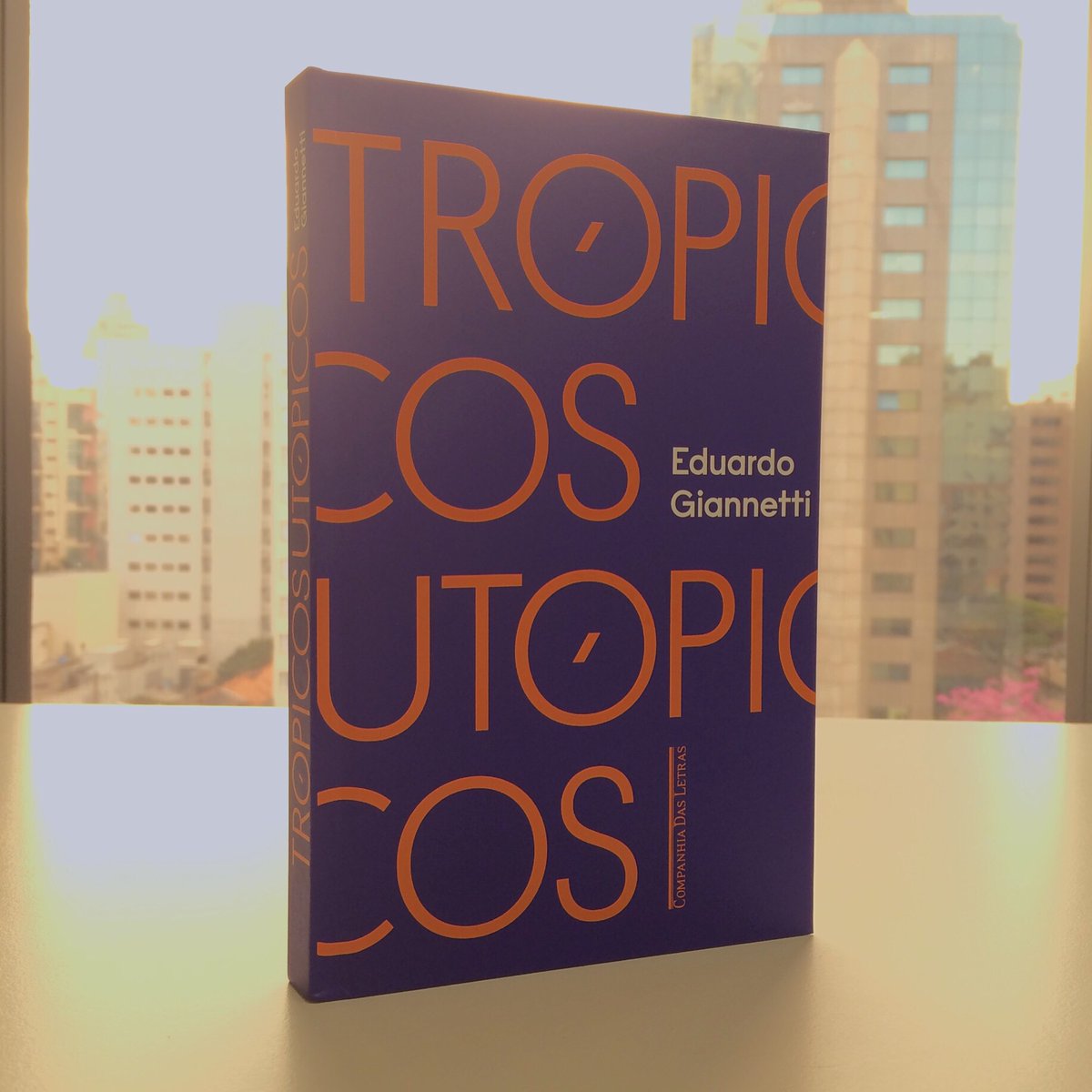11 Mai 2019
Professores refletem sobre a ideia do Nordeste como unidade, mapeiam suas origens e os interesses envolvidos
A reportagem é de Luiz Prado, publicada por Jornal da USP, 09-05-19.
Abre-se um site, folheia-se uma revista, escuta-se no rádio ou na televisão: nordestinos. Mais de 55 milhões de pessoas, distribuídas em nove Estados e carimbadas com o mesmo denominador: nordestinos. Dos manguezais do litoral pernambucano à amazônia maranhense, passando pelos ventos do cerrado e pela aspereza do semiárido: nordestinos.
Uma identidade que não é encontrada em qualquer outro lugar do País. Desafie-se a topar com o termo “sudestinos” escancarando manchetes de jornal. Ou arrisque-se em adivinhar como são chamadas as pessoas nascidas no Centro-Oeste.
O Nordeste, como uma unidade de geografia, cultura e problemas, é uma construção. Se aparece com naturalidade em diversas frentes, não deixa de merecer questionamentos sobre seus sentidos quando é observado mais de perto.
“As divisões territoriais pensadas e implementadas ao longo das décadas de 1910 e 1960 incorporaram, gradativamente, critérios vários: homogeneidade de fatos geográficos, modernização da administração com vistas à integração do território brasileiro, disparidades regionais”, explica André Luiz de Miranda Martins, professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pesquisador no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da USP, que neste mês de maio ministra, no IEB, o curso Interpretações do Nordeste.
Segundo Martins, um dos objetivos dessa divisão territorial, sobretudo a partir de 1930, foi dar racionalidade à ação do Estado. Nesse sentido, o conjunto de decisões tomadas e os traçados estipulados precisaram encontrar um ponto de referência que foi, antes de tudo, arbitrário. Seria a geografia física, questiona o pesquisador, um critério de unidade?
“Há um Nordeste litorâneo, úmido, com manguezais, zona da mata, resquícios de mata atlântica até”, comenta. “Há um cerrado nordestino; um Nordeste amazônico, ou uma amazônia maranhense, pois cerca de 25% do Maranhão integram a Amazônia Legal; há um Nordeste seco, o do semiárido.”
Para identificar o que serviria de referência para essa suposta unidade, Martins aposta suas fichas na semiaridez desse maciço – quase 1 milhão de km², cerca 65% do território nordestino. “Esse foi o Nordeste apresentado ao público leitor nacional por Rodolfo Teófilo e Euclides da Cunha, entre o fim do século 19 e o início do 20”, reflete. “Ali está um Nordeste onde nada, absolutamente nada, ‘se presta a soluções fáceis’, como certa feita registrou Celso Furtado.” Esse é o Nordeste agregado pela cana-de-açúcar que “devorou tudo”, segundo o professor: biomas, trabalhadores e decência.
Um Nordeste tutelado pelas elites
Para Martins, as culturas políticas alimentam os critérios para as divisões regionais. “Não sei se há um Nordeste inventado”, pondera. “Prefiro acreditar em um Nordeste tutelado pelas elites, regionais e nacionais, de cujos frutos grande parte da população é alienada, mesmo que os tenha criado.”
Se esses frutos desaparecem – ou melhor, trocam de mãos – em seu lugar surgem miséria e sofrimento. Uma dupla terrível que também acaba sendo arrancada do sertanejo despossuído, tornando-se produto de exploração muito bem desenhado e reafirmado pelas elites.
“Há um Nordeste muito precisa e negativamente delimitado, que é informado pelas imagens de nordestinos estiolados pelo desemprego, pela seca, pela fome”, enfatiza o pesquisador. “Essas imagens se gravaram na pedra da memória coletiva nacional e foram usadas incansavelmente pelas elites dos Estados da região para pactuar ‘ajudas federais’. Assim evocadas, as lutas pelos nordestinos ‘com sotaque’ foram, contudo, e sempre, lutas pelas condições de integração da classe média e das elites ao Sudeste”, denuncia Martins.
Um Nordeste que se vê
Ao longo do século 20, as artes foram sendas exaustivamente percorridas para se criar um imaginário sobre o Nordeste e os nordestinos. A agudeza dos retirantes de Euclides da Cunha, Candido Portinari e Graciliano Ramos lateja até hoje a sensibilidade de quem se desliza por seus traçados.
No cinema, o interesse pelo Nordeste pode ser rastreado até a década de 1920, com o chamado Ciclo do Recife. Mais de uma dezena de filmes foram realizados na cidade no período, incluindo longas-metragens de ficção, como Jurando Vingar, A Filha do Advogado e Revezes, e também documentários como Veneza Americana.
“Houve um surto de cinema durante o período silencioso”, explica o professor do Departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP Carlos Augusto Calil. “Alguns desses filmes fizeram sucesso, tendo sido exibidos em capitais do Norte e do Nordeste. Mas não chegaram ao Sul do País, nem sequer à capital da República, na época o Rio de Janeiro. Constituíram um fenômeno localizado, e que não pôde, portanto, se autossustentar.”
Segundo Calil, essa representação local do Nordeste tem mais semelhanças com a cena atual do que o cinema que veio logo em seguida. Eram cineastas pernambucanos, cearenses, paraibanos e baianos que realizaram suas obras sem simplificar a polaridade litoral/sertão. Um retrato diferente daquele proposto nos anos 1960 pelo Cinema Novo, conforme comenta o professor.
“Durante o Cinema Novo, em que muitos cineastas de fora filmaram no Nordeste – sobretudo paulistas, como Nelson Pereira dos Santos e a Caravana Farkas, cariocas, como Alex Viany e Walter Lima Jr. e também um moçambicano, Ruy Guerra -, houve uma ênfase no sertão como representante do Brasil profundo, repositório de atraso e da cultura autêntica do País.”
O cinema contemporâneo quebra esses estereótipos, que se arrastam até Central do Brasil, e retomam a orientação dos pioneiros silenciosos. “Nos filmes do cearense Karim Ainouz e dos pernambucanos Kleber Mendonça e Gabriel Mascaro, tanto o interior quanto o litoral são abordados fora de expectativas confortáveis de papéis sociais e políticos predeterminados. Boi Neon, por exemplo, revela um sertão pop, acentuadamente erotizado, muito distante da imagem austera de um Vidas Secas”, pontua Calil.
Um Nordeste que se ouve
Generalizações, reduções e idealizações também estão na música quando se fala de Nordeste. Nesse sentido, Alberto Ikeda, professor-colaborador do Programa de Pós-Graduação em Música da ECA e professor aposentado do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (Unesp), destaca que, apesar de aproximações e influências, a região apresenta uma diversidade maior do que se imagina e se propaga para outras regiões do País.
“O Nordeste não tem a unidade cultural e musical que se supõe, embora, evidentemente, existam alguns ritmos musicais que estão, sim, disseminados por ampla região, com certas semelhanças, transpassando os limites geopolíticos estabelecidos, como o exemplo dos cocos”, pontua, citando uma dança tradicional do Nordeste e do Norte. “Contudo, de fato, diversos gêneros musicais populares da Bahia não se confundem com outros próprios de Pernambuco, da mesma forma que os demais Estados ou mesmo algumas localidades e regiões podem ter musicalidades específicas e distintas, mas que não estão inseridas no espectro das músicas populares mais reconhecidas e disseminadas.”
Uma das formas dessa exclusão, salienta, é a rotulação de determinados ritmos como folclóricos. É o caso dos maracatus de Pernambuco e do Ceará, os caboclinhos e outras expressões indígenas e o bambelô, do Rio Grande do Norte, que não são incorporados como “música popular”, lembra Ikeda.
Um Nordeste que se pensa
Como uma questão no pensamento intelectual brasileiro, o Nordeste surge com as crises das economias açucareira e algodoeira e, consequentemente, das oligarquias tradicionais a elas associadas, no início do século 20, com agravamento a partir da década de 1930. É nesse contexto que se revela, nas palavras do professor André Luiz Martins, “uma região empobrecida pela gana de usineiros, industriais implacáveis, ou esturricada pela seca”. Imagens produzidas, comenta, a fim de granjear encaminhamentos e verbas para a crise e para conter um fluxo migratório crescente. É nesse período que nasce o nordestino como “migrante”.
“Um dos principais legados de Gilberto Freyre foi a incorporação do regionalismo, de uma certa noção de região, no debate político e cultural”, reflete o professor. “É certo que o sentido que o pensador de Santo Antônio de Apipucos deu ao regionalismo proveio do regaço da casa-grande. Digamos que ele eventualmente rompe com sua classe, sem efetivamente traí-la. Partem de Freyre, contudo, impulsos fundamentais a um cuidado mais intelectualmente aprofundado do patrimônio histórico e artístico regional (e também nacional) e aos estudos regionais.”
Nas décadas de 1950 e 1960 a reflexão se aprofundaria, com as intervenções de nomes como Celso Furtado e Josué de Castro. É o momento dos diagnósticos da “região-problema”, que pediam medidas transformacionais, explica Martins. É no contexto dessa reflexão que nasce a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), fundada por Furtado, exemplar dessa busca por transformações.
“Deve-se a Celso Furtado uma interpretação estruturalista latino-americana de sua região de origem”, destaca o professor. “Como não pensar no Nordeste do Brasil senão como expressão mais crua de muitos dos problemas econômicos latino-americanos?”
A Sudene seria a solução desenvolvimentista coerente com essa interpretação. “Mas havia ali um componente federativo que trazia a marca – brasileira, nordestina – do pensamento do mestre”, reflete Martins. “O desenvolvimento regional era um problema político; pedia soluções também políticas. Infelizmente, nos anos 1970, os governos militares detonaram os projetos furtadianos e ademais ajudaram a dar nova mão de tinta nos pactos oligárquicos por verbas, firmados no Congresso.”
Já a trajetória de Josué de Castro se conecta ao tema da fome, responsável tanto por seu reconhecimento internacional quanto por sua interdição ao debate público brasileiro, a partir do golpe de 1964. “Sua obra é um crescendo”, explica Martins. “Principia mais médica, mais técnica, mais voltada à epidemiologia e ao nascente campo do saber nutricional, mas sem demora desemboca na sociologia, na geografia e na história. As análises contidas em Geografia da Fome e em Sete Palmos de Terra e Um Caixão: Ensaio sobre o Nordeste, Uma Área Explosiva foram e são valentes bofetadas na cara de gerações de elites. A fome nordestina foi cozida durante séculos de latifúndio escravista. E na transição para o trabalho assalariado ela se recoloca, continuamente consumindo os trabalhadores.”
Um Nordeste que é o Brasil
Mais do que fazer borbulhar os problemas do Nordeste, as reflexões de Furtado e Castro se atualizam na discussão mais ampla sobre o Brasil. “A integração regional se deu apenas para as classes média e alta”, afirma Martins.
“Os problemas migratórios e de estrutura agrária seguem irresolutos. Nos rincões semiáridos economicamente mais débeis, as estiagens mantêm as condições de trabalho na terra em padrões análogos aos dos anos 1950. Sinceramente, não sei quando se vai atentar para a dimensão política do desenvolvimento regional. Mas ela está lá, em tantas obras de Furtado.”
Se Martins considera importante retornar aos escritos de Furtado, acha ainda mais urgente dar atenção ao pensamento de Castro. “Dos manguezais do Recife para o mundo, Josué de Castro, pioneiramente entre nós, pintou o feio retrato da fome, a opressão alimentar do trabalhador, como um dos mecanismos mais eficientes de controle social”, afirma. “Urge revisitar esse autor, enfrentar o tema-tabu da fome, acabar com o ‘silêncio premeditado pela própria alma da cultura’. Porque a fome voltou a assolar com mais regularidade e intensidade os brasileiros de todas as regiões e sotaques.”
Leia mais
- O “caipira” e suas apropriações regionais nas festas juninas. Entrevista especial com Valdir Jose Morigi. Revista IHU On-Line, Nº 425
- Velho e novo Nordeste
- Festa junina: a folkcomunicação da cultura popular nordestina. Entrevista especial com Luiz Custódio da Silva
- Cerrado é o bioma brasileiro com maior taxa de desmatamento, diz estudo
- Povos do Semiárido percorrem mais de 2 mil quilômetros para denunciar volta da fome
- Documentário traz história do semiárido antes e depois do Programa das Cisternas premiado pela ONU
- Desmatamento da Amazônia Legal segue com tendência de aumento, informa o Imazon
- Se o governo quiser resolver os problemas do Nordeste, terá que enfrentar a indústria da seca. Entrevista especial com João Abner Guimarães Júnior
- 'O Nordeste é uma invenção das elites agrárias'
- Sertão do Nordeste: um deserto em 25 anos?
- A fome volta ao sertão da Paraíba
- "Raiz e semente da História": 80 anos do Massacre de Pau Colher
- Forró: Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade?
- Caatinga: o desafio de criar uma reserva privada
- A economia política, histórica e brasileira de Celso Furtado
- Josué de Castro desnaturalizou a fome
- Desemprego e violência levam calamidade ao Nordeste
- A nordestinação da violência no Brasil?
- Moradores do Piauí comem rato-rabudo para matar fome na seca