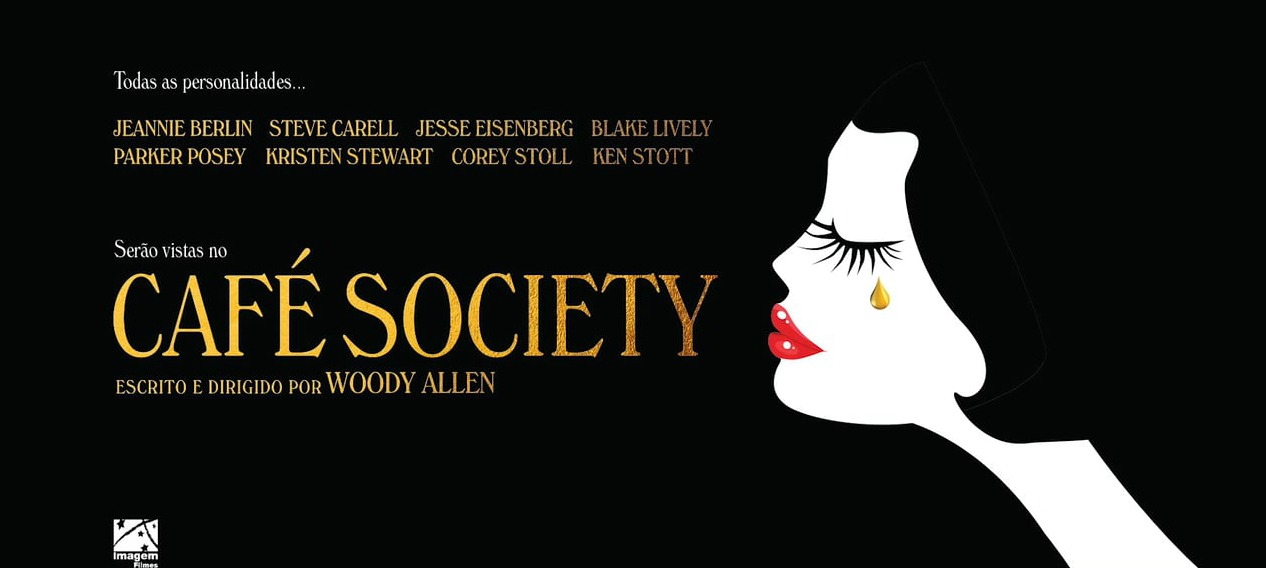03 Março 2017
"Moonlight é o tipo de obra cuja delicadeza e sensibilidade levam o espectador a se encantar com um clímax dramático que, no lugar de incidentes bombásticos ou de catarses grandiosas, traz apenas uma conversa", escreve Paulo Villaça, crítico cinematográfico brasileiro, editor do sítio Cinema em Cena e professor de Linguagem e Crítica Cinematográficas, em crítica publicada por Cinema em Casa, 06-02-2017.
Eis a crítica.

Monnlight | Imagem: Divulgação
Dirigido e roteirizado por Barry Jenkins. Com: Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Naomie Harris, Janelle Monáe, Jaden Piner, Jharrel Jerome, André Holland e Mahershala Ali.
Somos todos um resultado de nossos temperamentos, instintos e preferências inatos, mas também dos ambientes nos quais vivemos e das pessoas que nos cercam. Uma amizade estabelecida em um momento-chave da vida pode exercer uma influência positiva e garantir que aquela tendência ao vício não floresça; um pai que acredita mais no tapa do que na conversa pode surrar a doçura natural de alguém para fora de sua realidade. Em parte, é disso que trata Moonlight: de um garoto cuja essência gentil é sufocada por pancadas e miséria.
Escrito pelo diretor Barry Jenkins a partir de uma peça inédita de Tarell Alvin McCraney, o roteiro acompanha três momentos da vida de seu protagonista: a infância, quando é apelidado de Little (Hibbert); a adolescência, quando insiste em ser chamado pelo nome de batismo, Chiron (Sanders); e como jovem adulto, quando passa a atender por Black (Rhodes). Porém, descrever a trama do filme seria um exercício fútil, já que nem mesmo o mais detalhado dos resumos seria capaz de evocar a força da experiência de testemunhar como aquele garoto virou aquele adolescente que virou aquele adulto e também seus relacionamentos com a mãe, Paula (Harris), com o traficante Juan (Ali) e com o amigo Kevin (Piner, Jerome e Holland) e como estes o moldam, destroem e asfixiam.
Percebendo-se “diferente” ainda pequeno, quando ainda é incapaz de assimilar como esta diferença é perfeitamente normal, Little/Chiron/Black é um indivíduo solitário que, já suficientemente machucado aos 9 anos de idade, aprendeu a permanecer calado como forma de autopreservação, lançando um olhar desconfiado, de animal encurralado, para qualquer um que se aproxime – e Jenkins reforça nossa identificação com o personagem ao frequentemente rodar planos subjetivos que nos fazem registrar a hostilidade (real ou imaginada) com que todos parecem encará-lo.
Aliás, é curioso que eu tenha assistido a esta obra pouco depois de ver Um Limite Entre Nós, já que, vindas de textos teatrais, não poderiam ilustrar melhor a diferença entre uma adaptação que encontra sua própria voz no Cinema e outra que jamais transcende o material original. Se o filme de Denzel Washington depende dos diálogos, Moonlight poderia ser visto sem som algum e ainda assim seria compreendido pelo espectador – e é lamentável que o excepcional design de produção de Hannah Beachler não tenha sido reconhecido na temporada de premiações, já que sua lógica visual é coesa e fascinante. Associado à impecável fotografia de James Laxton, o design adota texturas, cores e temperaturas diferentes em cada um dos três atos da narrativa – e talvez ainda mais instigante seja notar como uma cor pontualmente surge na história da outra para comentá-la: observem, por exemplo, os azulejos amarelos vistos na parede do banheiro, sobre a cabeça de Little, quando é o azul que obviamente domina o restante do primeiro ato. Da mesma forma, é claro que Paula é vista banhada em vermelho ao sair do quarto onde provavelmente estava com um cliente (ela se prostitui para bancar seu vício em drogas) e que este tom é novamente incluído quando Black reencontra uma pessoa com quem teve um relacionamento intenso.
Little/Chiron/Black, por sinal, reflete sua personalidade complexa no que veste, do azul do primeiro ato à camisa azul e amarela do segundo, culminando no verde-escuro do terceiro (a evolução, como falei antes, é lógica). Por outro lado, aqui e ali o protagonista surge exibindo cores que parecem fugir do padrão e que, associadas à “dentadura” metálica que ele passa a usar, apontam um indivíduo que não sabe exatamente quem é e, portanto, busca assumir identidades que reflitam melhor seus propósitos imediatos de um momento para outro. Ou talvez isto reflita apenas sua humanidade e a complexidade que vem com esta.
O fato é que Moonlight é uma obra visual e tematicamente arrebatadora, levando ao extremo a ideia contida no evocativo título da peça original, “Sob a Luz da Lua, Garotos Negros Parecem Azuis” – um conceito que é introduzido no filme pelo personagem interpretado por Mahershala Ali, que compõe Juan como uma fuga do estereótipo do traficante. Surpreendentemente doce e paternal, Juan – apoiado pela namorada Teresa (Monáe, um ponto de luz em um universo sombrio) – demonstra, inclusive, ter plena consciência de ser parcialmente responsável pela instabilidade da mãe do garotinho que passou a amar, resultando num dos instantes mais emocionantes do longa, quando a câmera de Jenkins se detém sobre ele enquanto absorve o peso de suas ações.
Além disso, Juan protagoniza com Little outra cena determinante ao ensinar o garoto a nadar, o que dará início a uma rima temática e sonora importante ao associar o oceano à liberdade do protagonista – e não é à toa que Little/Chiron/Black se encontra próximo ao mar nas três ocasiões em que se entrega a alguma possibilidade de felicidade, flutuando nos braços de alguém que não o julga, reconhecendo a própria sexualidade e perseguindo uma chance de abraçá-la (e o ruído das ondas passa, assim, a representar uma promessa mesmo quando a fotografia adota o alto contraste para mergulhar tudo em sombras). Para completar, é interessante reparar como a primeira experiência sexual do rapaz envolve os quatro elementos: o mar à sua frente, o fogo do isqueiro, a brisa que inspira um comentário e a terra que assume a forma da areia que ele acaricia.
Moonlight é, em suma, o tipo de obra cuja delicadeza e sensibilidade levam o espectador a se encantar com um clímax dramático que, no lugar de incidentes bombásticos ou de catarses grandiosas, traz apenas uma conversa – e nem mesmo uma conversa cheia de revelações, mas simplesmente de humanidade, que reconhece que muitas vezes precisamos apenas de alguém que diga “Eu sei (ou quero saber) quem você é”.
Uma frase simples que, para Chiron, soa como o oceano.
Assista o trailer: