"Os valores do universalismo deram lugar a dois discursos dominantes: por um lado, a uma narrativa xenófoba politicamente de extrema direita que confunde, com ironia e torpeza, o universalismo com a anulação de qualquer elemento de diferença e, por outro lado, um discurso de esquerda, um tanto preguiçoso, que considera que o universalismo tem sido apenas uma farsa destinada a impor uma particular visão dominante, a dos brancos e heterossexuais. Resolver esta desconfiança no universalismo levará muito tempo, certamente, mas apresenta-se primordial sob o risco de deixarmos o modelo de contrato social perecer, e, com ele, os ideais de democracia e de liberdade."
O artigo é de Carlos A. Gadea, doutor e mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Realizou pós-doutorado na Universidade de Miami, nos EUA, e na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Foi professor visitante na Universidade de Leipzig e na Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México - UNAM, no México. Atualmente leciona no Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais e no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos.
Meses atrás tive o prazer de terminar de ler o livro Generación ofendida. De la policía de la cultura a la policía del pensamiento (Zorzal, Buenos Aires, 2021), da francesa Caroline Fourest. Sugiro decididamente sua leitura. O livro se ocupa de algumas mudanças recentes na cultura ocidental, como dos "pequenos linchamentos cotidianos", que terminam invadindo a intimidade, atribuindo identidades e censurando pessoas, como também da irrupção do que Fourest define como “tirania da ofensa”, dinâmica social que pareceria socavar o que resta do diálogo democrático. Basta que um pequeno grupo de “inquisidores” se digam ofendidos para obter desculpas de uma "celebridade", a proibição da publicação de um livro, pressionar para que uma publicidade seja vetada ou se retire de cartaz uma peça de teatro.

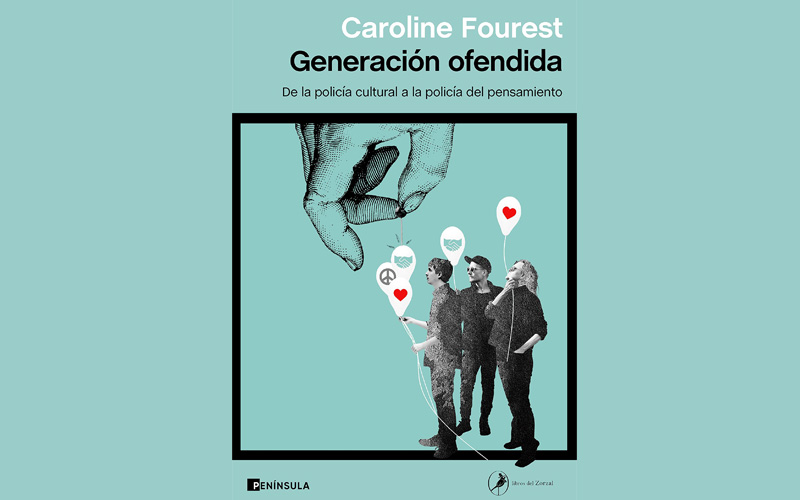
Reprodução da capa do livro Generación ofendida. De la policía de la cultura a la policía del pensamiento
Em particular, o capítulo Competição vitimista chamou a minha atenção. Principalmente porque aborda uma reflexão que se insere no ambiente social e cultural que passou a dominar nos espaços das universidades dos Estados Unidos e, evidentemente, em universidades do resto do mundo. Apresenta-se como uma antecipação do que está por vir, ou um diagnóstico do que já estaria entre nós, de uma cultura acadêmica que teria seus limites e fronteiras impostas, agora, por uma suposta "hipersensibilidade" de muitos jovens, e a de certos professores (muitos destes órfãos das "velhas certezas" revolucionárias) estrategicamente alinhados, no presente, à nova militância identitária.
Mas quem é Caroline Fourest? É uma cientista política, jornalista e diretora de cinema francesa nascida em 1975. Até 2012, foi colunista de Le Monde Diplomatique e da revista Charlie Hebdo. Define-se como feminista e lésbica, muito ativa na defesa dos direitos LGBTQIA+ na França. Tem aparições frequentes nos meios de comunicação em debates sobre fundamentalismo religioso, laicidade e liberdade de expressão. Ela é ainda pouco conhecida no Brasil, mas não tenho dúvidas que será em breve motivo de entrevistas em jornais do país.
Para compreender a crítica realizada no seu livro é preciso realizar uma breve contextualização da sociedade que ela encontra na França atual. Para ela, a sua cultura cívica e política esteve mudando significativamente nos últimos tempos.
Um indicador disto pode se encontrar no que revelam os dados da última eleição para a Presidência da República, disputada entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. No passado 22 de abril, Macron foi eleito com um 58,6% dos votos, logo após uma heterogênea aliança no segundo turno de setores da esquerda e do centro político do país. Verdadeiramente revelador dos novos tempos é que a polifacetada direita política francesa atual, encabeçada por Marine Le Pen, obteria um importante 41,4% dos votos, demonstrando um crescimento acelerado em comparação com a eleição passada, em 2017, quando Le Pen tinha sido votada por 33% dos franceses.
O mais significativo dos dados, ainda, é o que se observa quando estes se desdobram socialmente. Emmanuel Macron foi muito bem votado entre aqueles com 60 anos ou mais (64% dos que têm entre 60-69 anos e 74% daqueles com 70 anos ou mais), entre as categorias socioeconômicas e de profissionais mais altas (64%) e especialmente entre executivos (73%), entre as pessoas que vivem em grandes cidades (63%), especialmente Paris (71%) e aqueles que se sentem pertencentes às classes ricas (74%).
Marine Le Pen, obteve, ao contrário, pontuações muito boas entre os jovens de 25-34 anos (49%), os empregados (57%) e os trabalhadores (58%), os habitantes das comunas rurais (51%), entre os simpatizantes dos "coletes amarelos" (71%) e entre aqueles que se sentem pertencentes às classes desfavorecidas (72%) ou populares (60%) [1].
Uma avaliação rápida parece sugerir que as preferências políticas dos franceses se teriam invertido, se nos mantemos aderidos ao clássico quadro ideológico explicativo de esquerda-direita. Certamente, muitos temas e preocupações foram discutidos durante a campanha, mas com este resultado, o que pareceu chamar mais a atenção, seria que a "ampla agenda social e econômica" (desemprego, salários, ajuda social, educação, saúde) pareceu ter tido maior receptividade e vinculação na candidatura de Le Pen, ao tomarmos como dado concreto, claro, a alta votação obtida entre as classes populares e "desfavorecidas". Então, a que preocupações "reais" do cotidiano do comum dos franceses teriam concentrado, de fato, a agenda eleitoral da esquerda e a centro esquerda política? Quais seriam os mecanismos de identificação política do comum dos franceses na atualidade, como para sugerir "driblar" posicionamentos ideológicos supostamente estabelecidos?
Interessante lembrar que algo muito semelhante aconteceu na eleição de 2016 nos Estados Unidos, quando Donald Trump se tornou Presidente em uma disputada votação. Naquela oportunidade, o perfil socioeconômico dos seus eleitores era parecido a destes franceses que votaram em Le Pen, concentrando a sua força política nos estados do fragilizado e empobrecido centro geográfico do país. Particularmente me interessei por este fenômeno político, pela "ascensão da direita" e/ou crise de narrativas da esquerda (depende como se prefira observar) nos Estados Unidos, e lendo Extraños en su propia tierra. Réquiem por la derecha estadounidense, da socióloga Arlie R. Hochschild [2], deparei-me com uma pesquisa que iria ao coração mesmo da gestação dessa direita política que conduziria ao posterior triunfo de Trump.
Hochschild teria encontrado vidas empobrecidas por salários estancados, fábricas fechadas pela competição de produtos importados da China, a contaminação de rios e moradias em situação de vulnerabilidade, a perda do lar pelas dívidas de muitas famílias, o "sonho americano" que não se concretizava. Também encontraria na narrativa dos seus interlocutores o desejo de comunidade, a nostalgia por um "passado glorioso", sociabilidades fortalecidas pelos vínculos com igrejas evangélicas, a importância da estrutura familiar e a esperança de um "futuro melhor para seus filhos". Em linhas gerais, Hochschild desenhou como é a vida nos Estados Unidos republicano e em tempos de globalização.
Naomi Wolf, no seu trabalho intitulado O fim da América. Cartas a um jovem patriota americano, já tinha se deparado com uma realidade "emocional" semelhante, enquanto George Packer, em seu excelente livro Desagregação. Por dentro de uma nova América, tinha igualmente antecipado o que a deterioração de um ciclo político e socioeconômico estava configurando social e culturalmente, principalmente caracterizada pelo desmoronamento das estruturas, instituições e ideais que sustentaram a ordem da vida cotidiana dos cidadãos. Um vazio seria preenchido por diferentes forças, pelo dinheiro, o consumo, o desejo de comunidade, a identidade e o sentido de pertencimento à nação, ao grupo, à religião.
A França atual, para Caroline Fourest, não parece muito distante deste universo cultural estadunidense. Aliás, até sugere, inclusive, que o ambiente intelectual e acadêmico está padecendo, atualmente, dos mesmos dramas, por consequência de processos sociais semelhantes. Os problemas políticos e eleitorais que a "agenda identitária" teria trazido para os Estados Unidos [3] naqueles anos teriam os mesmos efeitos perversos para o caso francês recente.
No início do capítulo Competição vitimista, Fourest define o contexto e ambiente cultural que encontra na sociedade atual. Para ela, “as sociedades contemporâneas têm colocado o status de vítima no alto do pódio”, e por bons motivos: “inverter a relação de forças, derrubar as dominações, ter em conta os mais frágeis”. No entanto, como bem alerta, “o excesso começa quando a vitimização tende a calar outras vozes, e não precisamente a dos dominantes”. Certamente, vítimas de violação, de hostilidade, racismo e homofobia merecem atenção da sociedade, que sejam escutadas suas demandas e preocupações, e que a sociedade tire suas conclusões para “desterrar os mecanismos que trituram nossos vínculos”, mas “muito diferente (dirá Fourest) é que os oportunistas se aproveitem da compaixão para abrir um escritório de queixas permanente, onde se indignam por tudo e nada, sem ver as coisas com perspectiva, simplesmente para ter uma banca e existir nos meios”. Nisso reside, justamente, um dos principais motivos do “círculo vitimista”: uma grande competição, em que muitas pessoas estariam dispostas a “entrar a cotoveladas e jogar a carta da ‘raça’, o ‘sexo’, ou o ‘gênero’ se isso permite atender sua ambição. Um reflexo, quase uma rama de especialização que as universidades são as primeiras em alentar”.
Fourest relata situações sociais vividas em contextos de universidades dos Estados Unidos que chamam a atenção, às vezes, até pela proximidade que podem ter com o nosso próprio cotidiano. Como o caso de um escândalo surgido por um cardápio em um restaurante universitário que prometia pratos do Vietnã, mas que, longe de oferecer o "autêntico bánh mì’"característico do país, uma séria acusação de “apropriação cultural” recairia na diretora do restaurante, obrigada a pedir desculpas aos alunos por se "sentirem incomodados": “A imprensa local começa a falar. Investiga sobre o crime à maneira de um fato policial e adverte: se pessoas não vietnamitas modificam uma receita estão apropriando-se dela. Como se existisse uma receita ‘autêntica’ de um prato que tem viajado tanto”. De fato, Fourest relata que, após uma pesquisa, o tal "bánh mì’" seria uma tradução livre do "pão de migalha" no francês, quer dizer, que o mesmo nome atribuído ao prato seria o resultado da "apropriação" de várias receitas de outras culturas, sem esquecer a incorporação de determinados ingredientes que seriam, inclusive, do período colonial francês.
Mas um dos pilares desta "competição vitimista", em especial no ambiente das universidades, reside em um diagnóstico importante que realiza Fourest, e que dificilmente se pode discordar. Ela argumenta que: “Há alguns anos já que os professores se mostram aterrorizados perante a ideia de abordar determinados temas considerados ‘ofensivos’, ‘fonte de insegurança’ para seus alunos. Inclusive devem avisar se têm a intenção de referir-se a obras suscetíveis de turbá-los ou de conter ‘microagressões’. Essa é a expressão que utilizam certos docentes para indicar as indignidades verbais, comportamentais e meio-ambientais cotidianas, breves e banais, intencionais ou não, que comuniquem um sentimento de não pertencimento ou negatividade segundo a raça, a orientação sexual ou o gênero, bem como agravos e insultos de caráter religioso para com um grupo ou uma pessoa.”
Trata-se de uma definição elaborada por um professor de assessoramento psicológico da Universidade de Columbia, Derald Wing Sue, traumatizado por uma experiência pessoal. “Um dia, estava sentado em um avião junto a uma colega afro-americana, quando uma aeromoça informou aos passageiros que a aeronave apresentava sobrepeso e pediu que determinadas pessoas a bordo descessem”. Foi assim que a aeromoça se dirigiu a eles e solicitou para que descessem do avião, o que, na interpretação de ambos, essa escolha teria sido em virtude das suas origens. Por mais que a aeromoça negasse tal coisa, e até demonstrasse surpresa por semelhante julgamento, como poderia se defender se essa impressão dos professores se fundamentava na percepção deles? Como bem argumenta Fourest, por mais que ambos tenham se sentido ofendidos, há uma negação em realizar uma diferença entre uma ofensa "intencional" e uma ofensa "não intencional", uma denegação da complexidade de pensamento que depois pretendem ensinar aos seus alunos em sala de aula.
O professor Wing passou a convidar os seus alunos a indicar e acusar o mais mínimo ato de "microagressão". Com o tempo, as universidades começariam a estar regidas por um catálogo de "microagressões", em Harvard, Columbia, Brown. Por exemplo, para não "incomodar" os seus alunos, nem suas identidades, os professores, agora, deveriam emitir "trigger warnings", "advertências", antes de iniciar seus cursos. Dessa maneira, os estudantes mais sensíveis, relata Fourest, podem se retirar da aula antes de se verem afetados, algo parecido aos avisos para as crianças quando na TV passam um filme violento ou com conteúdo sexual, com a diferença de que, neste caso, trata-se de adultos, de aulas universitárias, e que as advertências têm a ver com obras clássicas como a de Antígona. O objetivo, parece, é evitar que os alunos “revivam seus demônios”, seus supostos traumas, através de determinadas obras da literatura, por exemplo. Mas, como bem se pergunta Fourest, “por acaso não é essa a razão de ser da literatura? De que serve se cultivar sem sentir?” O fato é que os grêmios estudantis “exigem o ‘direito de retirada’” em caso de conteúdos sensíveis, e os professores, e a Universidade, deverão acatar a demanda.
Em Columbia, os alunos exigem, de maneira direta, que se retirem de disciplinas leituras consideradas eurocêntricas, ou demasiado violentas. Mencionam o caso de uma jovem que se teria incomodado pelo estudo de "A Metamorfose" de Ovidio, devido a que teria sofrido, no passado, violência sexual. A proximidade da obra de Ovidio com a vivência particular da aluna fundamentaria o fato de pretender "censurá-la" como forma de "preservá-la" em segurança, mas não só por isso: "A Metamorfose" seria duplamente qualificada, por ser violenta e ocidental. “Como ‘tantos textos do cânone ocidental’, continua o manifesto, ‘a obra está constituída por um conteúdo que ofende e provoca, e que marginaliza as identidades de xs estudantes na aula’”. Como se fosse pouco, a "censura" viria, também, porque a obra era "ocidental" e, por consequência, na preguiçosa interpretação dos alunos, inerentemente violenta e racista. Um "Ocidente" violento e racista é uma forma de interpretar as coisas, no mínimo, reducionista, e, no pior dos casos, pouco sério, como pretender dividir as culturas em blocos monolíticos que estão em conflito. O que seria "Ocidente", exatamente? E o que seria "o outro" desse "Ocidente", para estes alunos?
Mas, no Manifesto dos estudantes, o mais curioso viria no final, com uma demonstração de "paternalismo" que não surpreende: “Esses textos, intimamente ligados às histórias e aos relatos de exclusão, podem ser difíceis de ler e discutir em tanto sobreviventes, pessoas de cor ou estudante procedente de um entorno socioprofissional pouco elevado” [4]. Parece que, na perspectiva adotada, alunos negros, pobres ou procedentes de um entorno “pouco elevado” não teriam como se defrontar como uma leitura como essa, a quem não se lhes atribui grandes capacidades além do exótico estatuto de vítima a que se tem que defender. Esta situação lembra uma reflexão que Christopher Lasch desenvolveu no seu trabalho "O Mínimo Eu", ao falar de um "eu contemporâneo" que se consideraria, ao mesmo tempo, como se fosse sobrevivente e vítima, ou uma vítima potencial, portador de uma "ferida profunda" que carrega, e que a vitimização inflige, dando como resultado uma maneira de encarar a vida não mais como sujeitos éticos ativos, mas apenas como vítimas passivas. Assim, o protesto político se apresenta como um ato de exorcismo coletivo necessário para sua permanência.
Fourest sustenta que “o mais caro desejo de todo xenófobo intolerante se cumpre através da esquerda vitimista”. Menciona o caso de um estudante da Universidade de Duke, “que não teve mais que invocar sua identidade religiosa e os Evangelhos para justificar a censura”. Sua inquietação provocou a solidariedade de um estudante muçulmano que se aproximou para oferecer seu apoio, já que ele também estaria “preocupado de ver como essa literatura liberal estava diluindo sua identidade religiosa: ‘Tenho visto tanta gente que simplesmente jogou no lixo sua identidade em nome da laicidade, a abertura mental e o liberalismo social’”.
Na França, diz Fourest, presenciou-se algo parecido, já que enquanto o governo experimentava programas que apontavam a desconstruir os estereótipos de gênero, “algumas famílias cristãs e muçulmanas se juntaram para exigir retirar seus filhos durante essas aulas... para não as expor à teoria de gênero”! É aqui para onde nos conduz a política da identidade. Ela transforma os antirracistas em talibãs da cultura”, conclui Fourest.
No final da sua reflexão, em Competição vitimista, lembra de uma situação na Universidade de Hofstra, perto de Nova York, que permite associar com alguns episódios recentes aqui no Brasil. Relata que uma considerável quantidade de alunos protestava ao grito de "Fora, Jefferson", para que se retirasse uma estátua de Thomas Jefferson do campus. Fourest escreve: “Por que arremeter contra um dos redatores da Declaração da Independência, graças a quem esses mesmos estudantes hoje se beneficiam de tantas liberdades? Utilizam essa liberdade que não tiveram que conquistar para lhe recriminar postumamente ter tido escravos, quando isso era uma prática unânime entre os homens do sul da sua posição social. Estes jovens, a força de viver em um mundo descontextualizado, o das redes sociais, sem que as universidades os eduquem para ter um espírito crítico, são de uma injustiça anacrônica”.
No ambiente acadêmico e intelectual brasileiro, poucas Caroline Fourest são visíveis. Discussões como as do seu livro praticamente não existem atualmente, e se existissem seriam imediatamente "policiadas". Isto se deve, de certa maneira, a que assistimos a uma crise das Humanidades (ou que isto seja uma evidência, justamente, da sua crise), e muito do que Fourest relata como próprio de uma realidade supostamente alheia, a das universidades norte-americanas, já vem acontecendo, também, por aqui.
Particularmente, penso que os valores do universalismo deram lugar a dois discursos dominantes: por um lado, a uma narrativa xenófoba politicamente de extrema direita que confunde, com ironia e torpeza, o universalismo com a anulação de qualquer elemento de diferença e, por outro lado, um discurso de esquerda, um tanto preguiçoso, que considera que o universalismo tem sido apenas uma farsa destinada a impor uma particular visão dominante, a dos brancos e heterossexuais. Resolver esta desconfiança no universalismo levará muito tempo, certamente, mas apresenta-se primordial sob o risco de deixarmos o modelo de contrato social perecer, e, com ele, os ideais de democracia e de liberdade.
Pareceria que estamos pagando um alto preço ao chegarmos, gradativamente, ao que Tocqueville denominou alguma vez de "pequenas sociedades", através das quais ele explicava que se o Estado e a própria sociedade não se encarregavam de estabelecer uma comunhão entre os cidadãos, as pequenas semelhanças identitárias decidiriam a vida da polis, transformando-se em uma aglomeração de pequenas comunidades particulares que vivem próximas umas de outras. O problema poderia vir quando começamos a estabelecer uma vida cotidiana ao lado de outro que consideramos um estranho, em consequência, uma ameaça potencial à minha sobrevivência enquanto identidade, criando rejeição, conflitos, medo e, portanto, violência. Os problemas da polis seriam sempre explicados atribuindo a responsabilidade a esse Outro e estranho. Por isso, transcender este olhar supõe um enorme desafio: compreender, primeiro que nada, que redesenhar uma sociedade democrática e igualitária é algo inerentemente frágil, já que se baseia em uma aposta perigosa e arriscada: fazer com que seres humanos vivam entre si, permitindo que convivam em "perfeito desacordo" uns com os outros.
Se política e culturalmente chegamos até aqui, seja nos Estados Unidos, na França e até no próprio Brasil, é porque temos fracassado em algo fundamental: na transmissão de valores republicanos, do secularismo e da laicidade na educação. A desilusão dos jovens com suas próprias liberdades resulta, principalmente, da falta de transmissão dos valores republicanos e seculares por parte das gerações maiores, principalmente das que ocupam um lugar privilegiado na produção e divulgação de conhecimento nas universidades. Essa falta, evidentemente, ancora-se na ausência de compromisso há várias décadas de um Estado em assumir a sua herança e história neste propósito.
Pode-se dizer até que o "espírito republicano" considerou as suas lutas como algo já dado, como lutas já consolidadas, de tal forma que esqueceu de ensinar as suas principais vitórias. Por isso, é exatamente na ausência de transmissão republicana e universalista que as ideologias populistas desenvolveram uma desilusão coletiva, posteriormente materializada na figura de um Trump nos Estados Unidos ou na "fúria iconoclasta" dos identitários de esquerda.
Nas Universidades não parece muito diferente, sendo, por momentos, ambientes de desconfiança intelectual, cancelamentos e conflitos, no lugar da colaboração para o conhecimento e o desenvolvimento da sociedade. Mas sejamos otimistas. Minha sugestão é ler o livro de Caroline Fourest, enquanto o debate continua pendente.
[1] Informações aqui.
[2] Hochschild, Arlier R (2018, [2016]), Extraños en su propia tierra. Réquien por la derecha estadounidense, Capitan Swing, Madrid.
[3] Ver aqui.
[4] Manifesto citado por Laurent Dubreuil, ‘La dictature des identités’, Paris, Gallimard, 2019, p. 88-89.