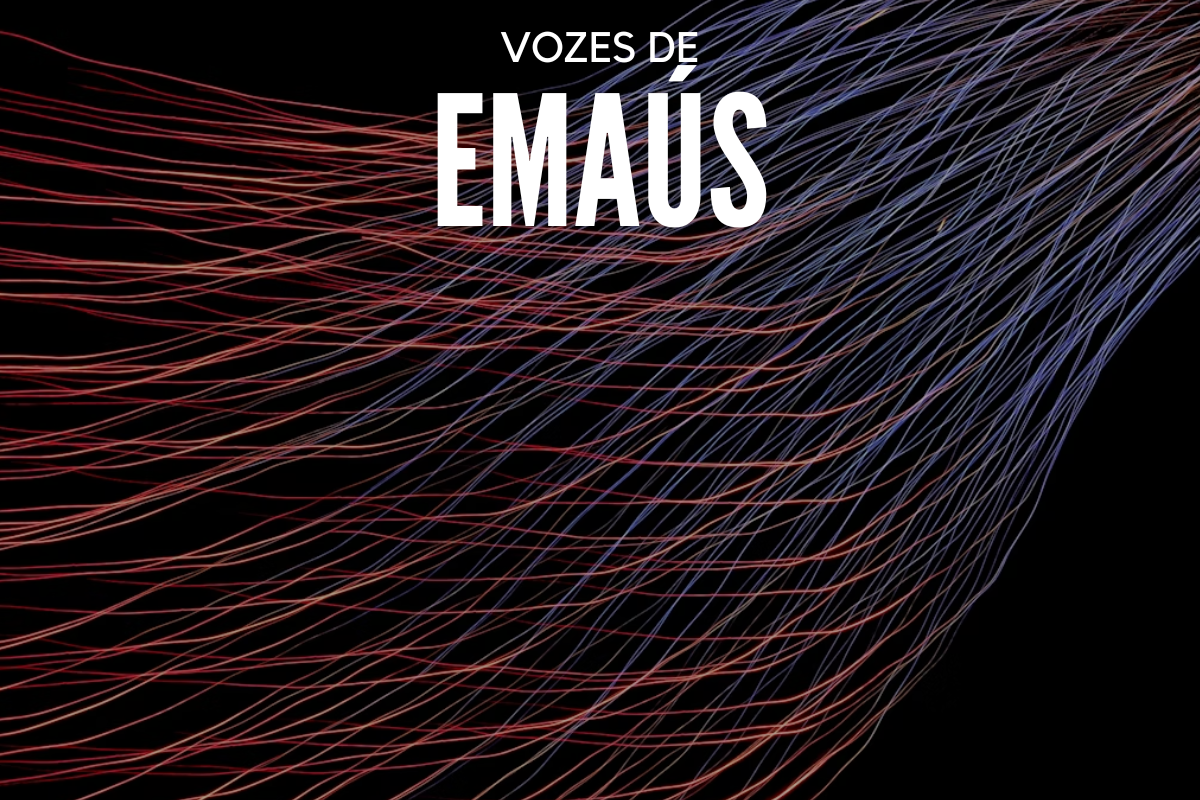17 Agosto 2018
“O câmbio livre já é pura retórica em aspectos essenciais. Enquanto o Ocidente levanta a sua bandeira, ativa todas as medidas protecionistas para evitar a liberdade de movimento de trabalho, incluindo o fechamento de fronteiras a refugiados e imigrantes. Ao mesmo tempo, nega-se a colocar fim ao excesso de liberdades para o movimento de capital, origem dos paraísos fiscais. Onde deveria facilitar a liberdade de movimento, introduz proteções e onde deveria estabelecer proteções e controle, mostra-se libérrimo”, escreve o economista Ignacio Muro, especialista em modelos produtivos e em transições digitais, em artigo publicado por Economistas Frente a la Crisis, 16-08-2018. A tradução é do Cepat.
Eis o artigo.
Que o neoprotecionismo tenha ressurgido na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, o berço de Thatcher e Reagan, líderes que impulsionaram há quase 30 anos o neoliberalismo, é o fenômeno que melhor define as contradições atuais da globalização econômica.
Que Trump e os populismos xenófobos sejam aqueles que capitalizem o desencanto social que a desigualdade global provoca é o fenômeno que melhor define as contradições e limitações da esquerda política nos países desenvolvidos.
Sem possibilidades de discutir as causas que submetem o mundo a um estado de choque, sem que o pensamento racional progressista mostre para onde vamos e em quais prazos, as pessoas comuns se negam a lhes seguir o jogo e dizem basta.
Muita velocidade, muito desequilíbrio, muitas vantagens comparativas
A esquerda segue apontada para o consenso sobre a liberdade de comércio como algo intocável e quase religioso, um mito absoluto de progresso, como um símbolo de sociedades abertas. Na prática não é assim. Tudo é questão de medidas, de prioridades, de ritmos, de correrias ou pausas.
Ainda que a liberdade de movimento para mercadorias, capitais e trabalho seja a tendência desejável, só se transforma em progresso, caso se desenvolva com uma agenda equilibrada e harmônica, uma condição impossível na época acelerada e desigual em que vivemos. O câmbio livre já é pura retórica em aspectos essenciais. Enquanto o Ocidente levanta a sua bandeira, ativa todas as medidas protecionistas para evitar a liberdade de movimento de trabalho, incluindo o fechamento de fronteiras a refugiados e imigrantes. Ao mesmo tempo, nega-se a colocar fim ao excesso de liberdades para o movimento de capital, origem dos paraísos fiscais. Onde deveria facilitar a liberdade de movimento, introduz proteções e onde deveria estabelecer proteções e controle, mostra-se libérrimo.
Na velocidade em que as mudanças se desenvolvem, a incompreensão da globalização é assegurada, destaca Stephen Roach. É que no hiperconectado mundo de hoje já não servem os argumentos desenvolvidos por David Ricardo, no século XVIII, quando falava das vantagens comparativas de Inglaterra e Portugal para a produção de tecidos e vinhos.
Chegou à mesma conclusão, nos últimos anos de sua vida, o prêmio Nobel Paul Samuelson, obstinado defensor das vantagens do livre comércio, quando destacou que a teoria das vantagens comparativas não sobreviveria a este mundo. Situava a causa na aceleração histórica que provoca a ação combinada da globalização e a mudança tecnológica nas leis econômicas. O exemplo disso era a China que não só se tornou a fábrica do mundo de bens de baixo valor, objetivo que já ultrapassou em fins dos anos 1990, como também conseguiu se especializar em reproduzir massivamente tecnologias disruptivas com mão de obra barata.
Muita velocidade, muito desequilíbrio, muitas vantagens comparativas. Não é estranho que a China seja agora a que defende a liberdade de comércio e os Estados Unidos o protecionismo.
Quando a história traz lições concludentes
A liberalização econômica sempre foi o argumento daqueles que obtêm vantagens com ela. Sempre foi assim.
Há 150 anos, um episódio antecipava a importância dos tempos na agenda de liberalização do comércio. Em 1865, Ulisses Grant, presidente dos Estados Unidos, sofria pressões para se submeter à liberdade de comércio defendida pelos manchesterianos do Reino Unido, então a potência econômica indiscutível. Ulisses se opõe afirmando: “nós também concordaremos em implantar a liberdade de comércio, mas será daqui a 100 ou 200 anos, quando tenhamos tirado todo o proveito das políticas protecionistas”. E assim foi.
Se a integração da Espanha na União Europeia não pode ser questionada, a velocidade imposta pela Alemanha e aceita por Felipe González facilitou uma desindustrialização acelerada em um choque brutal, do qual a Espanha não se recuperou.
O argumento de fundo fica claro: o acesso à liberdade econômica exige ritmos adequadamente lentos para os que têm estruturas mais débeis; os ritmos acelerados na integração é o caminho da desigualdade, porque consolida o poder dos poderosos.
O fracasso da União Europeia: Hayek frente a Habermas
A socialdemocracia acreditou muito cedo na morte do Estado-nação, paradoxalmente reabilitado com a crise. E ignora as experiências dos países que decidiram não entrar na União Europeia, como Suíça, Islândia, Noruega, ou os que optaram por ficar fora da zona euro, como Suécia, Dinamarca, Reino Unido e Polônia. Fora da Europa, países como Coreia do Sul, Chile, Canadá, Nova Zelândia e Austrália também não parecem estar em risco por não se integrar em federações maiores.
A necessidade de migrar as competências do estado-nação para instâncias superiores foi assumida pela socialdemocracia como um mantra para defender os valores do estado social contra a globalização neoliberal. O professor Glyn Morgan confronta essa posição, representada por Jürgen Habermas, com a de Hayek, o economista austríaco considerado um dos pais do neoliberalismo, que defendia justamente o contrário: que o desenvolvimento da união federal europeia seria muito positivo porque daria vantagem ao programa liberal e limitaria a capacidade do estado-nação para aplicar políticas de bem-estar social.
Hayek defendia a união europeia porque acabaria com o estado social, Habermas porque o salvaria. Resta dizer a quem a história está dando a razão.
As falsas “cessões” de soberania
A realidade é que não houve uma cessão de soberania do papel de cidadão espanhol, francês ou italiano ao de cidadão europeu. O que aconteceu nesse trânsito é que a soberania se perde, não se cede, porque não há do outro lado nenhum corpo de poder institucionalizado, minimamente democrático, que a herde. A União Europeia, especialmente desde que o núcleo central se integra na zona euro, é uma organização hayekiana, elitista, que longe de organizar uma soberania democrática de grau superior ao Estado-nação, tem minado-o, sistematicamente.
Manifestar-se assim não implica defender hoje a saída da União Europeia ou da zona euro, mas, sim, condicionar seu futuro a condições de sobrevivência que devem fazer parte da agenda dos próximos quatro anos. Enquanto isso, é imprescindível não dar um passo a mais na cessão de competências, sem antes assegurar estímulos suficientes de controle democrático. E estar muito atentos aos novos choques assimétricos que podem causar a implosão da União Europeia na próxima crise, que nos deixariam fora e sem alternativa. Isso, sim, seria o caos.
Leia mais
- Sob ataque do protecionismo dos EUA, o real derrete
- Raízes do protecionismo. Artigo de Luiz Gonzaga Belluzzo
- Protecionismo atual tem semelhanças com disputas que levaram a guerra mundial, diz historiador
- Raízes da guerra comercial entre EUA e China
- Estados Unidos e China. Guerra comercial e política industrial
- Estados Unidos e China. Meio século de guerra comercial?
- “Populismos de direita surgem da ausência de vontade política na Europa”, afirma Jürgen Habermas
- Uma esquerda sem conceito. Artigo de Alberto Aggio
- Capitalismo de livre mercado contra capitalismo de compadrio