25 Novembro 2017
"MacIntyre reitera, em termos um pouco diferentes, o famoso dito de Tomás de Aquino segundo o qual “todo desejo visa algum bem”. A afirmação de Aquino não diz que todos os desejos são bons, mas que até mesmo os desejos ruins visam algum bem – normalmente prazer, reputação, ou ganho – à custa dos bens superiores de virtude e de Deus", escreve Edward Skidelsky, filósofo, em texto publicado por Commonweal. A tradução é de Isaque Gomes Correa, , 20-11-2017
Eis o texto.
A filosofia acadêmica moderna é um jogo estranho e solene, cujo espírito, para transmiti-lo, exigiria o gênio de um Kafka ou um Borges. Os participantes deste jogo devem fingir que estão a progredir, passo a passo, em direção à Verdade, na medida em que teorias ruins são descartadas e teorias melhores são postas em seus lugares. Entretanto, na realidade não existe progresso algum, apenas uma subtilização sem fim de opiniões rivais. Todos os filósofos sabem disso, no entanto poucos se atrevem a admitir, pois o jogo só pode continuar na medida em que ninguém reconhece se tratar de um jogo.
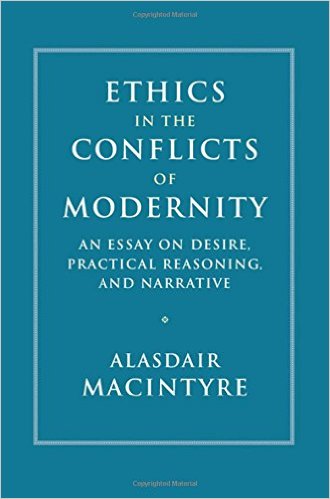
“Ethics in the Conflicts of Modernity: An Essay on Desire,
Practical Reasoning, and Narrative”
Alasdair MacIntyre
Cambridge University Press, US$ 49,99, 332 p.
Alasdair MacIntyre optou por se retirar deste jogo. A razão humana, insiste ele, acha-se apropriadamente em casa dentro de certas tradições particulares de prática – nesse caso, a da Igreja Católica de Roma. Divorciado de uma tal tradição, ela deve se degenerar em uma técnica estéril, mascarando a vontade arbitrária. Estas posturas fizeram de MacIntyre um estranho na sua profissão. Os filósofos morais convencionais não sabem o que fazer com ele. Relutantemente reconhecem o seu brilho – e continuam a jogar o jogo.
O mais recente livro de MacIntyre, intitulado “Ethics in the Conflicts of Modernity: An Essay on Desire, Practical Reasoning, and Narrative” (Ética nos conflitos da modernidade: ensaio sobre o desejo, raciocínio prático e narrativa, sem tradução brasileira), estreia uma série de questões aparentemente inócuas sobre a ação e o desejo. Podemos explicar as nossas ações, a nós mesmos e aos demais, dizendo quais desejos as satisfazem? Em certos contextos, a resposta é patentemente “sim”. (“Por que você está acenando para o garçom?” “Porque quero mais bolo de chocolate.”) Mas observemos que aceitamos esta explicação somente porque comer chocolate em um restaurante é geralmente algo prazeroso e não nocivo de se fazer. Substituamos por uma explicação alternativa – “porque quero criar um transtorno”, “porque quero imitar uma planta tocada pelo vento” – e a ação se torna desconcertante. (Por que alguém iria querer isto?) Os desejos, conclui MacIntyre, não podem, por si mesmos, explicar a ação. Somente podem na medida em que tenham algum ponto inteligível, visam algum bem.
MacIntyre aqui reitera, em termos um pouco diferentes, o famoso dito de Tomás de Aquino segundo o qual “todo desejo visa algum bem”. A afirmação de Aquino não diz que todos os desejos são bons, mas que até mesmo os desejos ruins visam algum bem – normalmente prazer, reputação, ou ganho – à custa dos bens superiores de virtude e de Deus. Um desejo que não visasse nenhum bem discernível ser-nos-ia inteligível. Isto possui consequências práticas importantes. Se todo desejo envolve a apreensão de seu objeto como bem, então na medida em que este objeto não é bom, ou não tão com quanto um objeto alternativo, o desejo está condenado. O ascetismo, o disciplinamento do desejo, é um imperativo do próprio desejo. Este é o significado do ditado – em geral atribuído, falsamente, a G. K. Chesterton – de que “Todo homem que bate à porta de um bordel está, na verdade, procurando por Deus”.
A concepção tomista de ação e desejo de MacIntyre é, hoje, uma minoria. A visão moderna predominante, derivada de David Hume, é a de que o desejo em si, independentemente de qualquer ideia de bem, basta para explicar por que fazemos o que fazemos. Os economistas em particular enxergam toda a ação humana como uma tentativa de maximizar a satisfação de um dado conjunto de preferências. Esta não é exatamente uma asserção franca de egoísmo que muitas pessoas consideram ser, pois as preferências em questão podem incluir preferências, digamos, por justiça social e paz mundial. Podem incluir até mesmo preferências por outras preferências, como quando alguém sinceramente não quer uma outra taça de vinho.
O Homo economicus não precisa ser um Caliban. Todavia, na medida em que os impulsos de sua melhor natureza aparecem-lhe simplesmente como um conjunto de preferências entre outros, ele não possui uma razão imperiosa para obedecê-las. Por que ele não deveria seguir com o desejo de beber vinho, em oposição ao desejo de não desejar beber vinho? E se for o primeiro caso, e não o segundo, que represente o seu “verdadeiro eu”? Se para Aquino o desejo se move naturalmente em sentido ascendente, de baixo para cima, para o seu rival humeano ele poderia também se mover em sentido descendente, de cima para baixo. O homem que procura por Deus está, na verdade, batendo à porta do bordel.
A disputa entre estes dois relatos da ação humana, a tomista e a humeana, está em curso e, ao que parece, é interminável. Ela preenche volumes completos nas bibliotecas universitárias. MacIntyre não busca contribuir diretamente para o debate. Não possui argumentos definitivos a apresentar. O seu objetivo é, em vez disso, superar a [visão] humeana ao mostrar-lhe que esta visão da ação humana é a contraparte intelectual de um desdobramento social específico, que reflete, ao mesmo tempo, em que oculta. Ele procura fornecer “uma sociologia e uma psicologia do erro filosófico”. Como o pensador procede nesse sentido?
O primeiro passo de MacIntyre é delinear um contraste entre as duas formas de associação humana. A primeira pode ser ilustrada (com um toque de idealização) com a oficina de um pintor de Florença no século XIV. Os membros desta oficina agem em conjunto para alcançar os fins internos à prática da pintura: beleza de forma e cor, fidelidade à vida, e assim por diante. O sucesso nesta empreitada pode trazer outros benefícios também – lucros, prêmios, etc. –, ainda que estes não sejam buscados por si mesmos, mas como gestos de reconhecimento ou meios para a existência continuada da oficina. Os aprendizes oficineiros aprendem a reconhecer e valorizar os bens intrínsecos do ofício, para conferir-lhes um lugar adequado – não muito baixo, não muito alto também – em suas deliberações. São treinados a disciplinarem seus desejos, dirigi-los no sentido daquilo que é para eles, dada a sua situação social, objetivamente desejável. Na medida em que esta formação é bem-sucedida, irão deliberar no sentido descrito por Aquino, não Hume.
Agora contrastemos esta oficina com uma outra (sem dúvida igualmente idealizada) organização: uma agência publicitária moderna. Escrever uma peça publicitária é uma atividade altamente habilidosa. Requer inteligência, versatilidade, imaginação e empatia – todos os talentos, na verdade, do artista e do poeta. No entanto, o fim da publicidade é externo, não interno, à atividade da publicidade em si: é vender bens a clientes e, em última instância, fazer dinheiro para a agência. Fazer dinheiro pode ser um fim compartilhado, mas não um fim genuinamente comum; os parceiros em um empreendimento comercial estão “nele para si mesmos”, embora os interesses deles possam coincidir provisoriamente. Fazer publicidade, então, não pode dar nada que equivalha ao tipo de educação do desejo fomentada pelo ateliê medieval. É apenas um ambiente social dentro do qual os desejos existentes podem (ou não) ser satisfeitos. Os que trabalham na publicidade irão geralmente deliberar no modo descrito por Hume, não por Aquino.
A minha escolha pela publicidade como um exemplo não é inteiramente acidental. Ao ler “Ethics in the Conflicts of Modernity”, descobri tardiamente aquilo que com certeza deve ser uma das grandes obras de arte da década passada, a série televisiva “Mad Men”. Aqui, surpreendeu-me, vi uma contraparte em carne e osso ao diagnóstico um tanto abstrato da modernidade e seus males apresentado por MacIntyre.
Mad Men, como os leitores indubitavelmente sabem, retrata os altos e baixos de uma empresa publicitária nova-iorquina na década de 1960. O personagem central, Don Draper, diretor criativo da firma, tem talento, charme e boa aparência. E não carece de virtudes também: em uma ocasião, é bravo, leal e generoso. No entanto, algo crucial falta nele, como logo ficamos sabendo: um senso de propósito ou “caráter”. A sua vida é fragmentada, tanto diacronicamente (as suas várias fases possuem pouca conexão entre si) quanto sincronicamente (as suas diferentes esferas são mantidas rigidamente separadas). Carece de “narrativa” – termo-chave macintyreano. Não obstante, essa mesma falta de coerência narrativa faz de Draper uma figura fascinante, às mulheres em particular. Ele parece profundo, e em certo sentido o é, mas somente porque é vazio.
Existe, é claro, uma conexão entre a personalidade de Don Draper (ou a falta dela) e a sua profissão. Publicitários são sedutores ocupacionais e, como todos os sedutores, prudencialmente adaptáveis. Devem estar prontos a adotar quaisquer gostos, deixar de lado quaisquer convicções, na busca do seu alvo demográfico. (Em um episódio, Draper escreve uma carta aos jornais denunciando a indústria tabagista, mas somente porque espera por novos clientes entre os lobistas antitabagismo após o desligamento da Lucky Strike com sua empresa) A publicidade é a indústria pós-moderna por excelência, um paradigma do triunfo da superfície sobre o conteúdo. Mas voltemos a MacIntyre.
“O homem não aspira à felicidade”, escreveu Nietzsche; “apenas os ingleses fazem isso”. O argumento de MacIntyre tem uma forma semelhante. Ele identifica aquilo que pretende ser uma verdade filosófica sobre a ação humana em geral como uma verdade sociológica sobre a ação humana em um estágio particular do desenvolvimento histórico. O “homem” não busca maximizar a preferência-satisfação; apenas os executivos publicitários e seus colegas fazem isso.
É evidente que a sociologia, em si mesma, não pode resolver um debate filosófico, como bem sabe MacIntyre, pois ela sempre faz um recorte em ambos os sentidos: se a teoria da ação de Hume é uma expressão de seu tempo no pensamento, então assim também presumivelmente acontece com o de Aquino. Para evitar esta conclusão cética, MacIntyre vai mostrar que as duas teorias não estão em pé de igualdade, que a forma de associação pressuposta por Aquino é básica e universal, enquanto aquela pressuposta por Hume é local e derivada. Ele faz isso demonstrando que todos nós, hoje, em grandes áreas da nossa vida profissional e, sobretudo, familiar, agimos e pensamos como tomistas, mesmo se a linguagem predominante da modernidade oculta isto de nós. (A teoria econômica do matrimônio de Gary Becker deve a sua plausibilidade, observa MacIntyre inteligentemente, ao fato de que muitos casamentos modernos operam, de fato, ou pensam operar, sobre os princípios que ele descreve; mas tais casamentos geralmente rumam ao divórcio.) Até mesmo as empresas capitalistas dependem, para a sua sobrevivência, das pequenas redes de boa vontade que crescem, inusitadamente, em seus interstícios, embora estas sejam inevitavelmente sufocadas principalmente pela lógica da instituição. Mad Men retrata várias “quase amizades” entre os membros da empresa, as quais a rivalidade e a desconfiança impedem de se concretizar.
O objetivo de MacIntyre é convidar os seus interlocutores humeanos a um esforço de “autoconhecimento sociológico” – isto é, “refletir sobre até que ponto, em seu pensar e agir nas famílias e agregados, em escolas e nos locais de trabalho, eles já pressupõem a verdade de algumas declarações aristotélicas e tomistas centrais concernentes a bens individuais e comuns”. MacIntyre sustenta um ponto wittgensteiniano aqui: a filosofia é uma recordação daquilo que já sabemos, daquilo que a teoria equivocada nos fez esquecer.
“Ethics in the Conflicts of Modernity” contém muito mais do que este resumo superficial pode transmitir. Há respostas aos filósofos László Tengelyi, Galen Strawson e, sobretudo, Bernard Williams – outro crítico perspicaz da filosofia moral convencional, embora de um tipo diferente. Há uma demolição corajosa do movimento “felicidade”, resumida numa troca de ideias entre De Gaulle e um jornalista pouco sensato o suficiente para perguntar-lhe se ele era feliz (“Eu não sou burro” foi a resposta de De Gaulle). O livro conclui com minibiografias de Vasily Grossman, Sandra Day O’Connor, C.L.R. James e do Pe. Denis Faul – todos ilustrativos, em diferentes modos, do problema da reconciliação da integridade pessoal com as lealdades públicas. É de se perguntar se se trata de um dilema com o qual MacIntyre, como católico e uma espécie de marxista, teve de lidar.
Este livro não é, devemos dizer, de fácil leitura. O seu debate é denso; as suas frases se esforçam para capturar cada faceta dos seus assuntos, por menos importantes que sejam. (Um exemplo típico: O que mais irá surpreender os nossos neoarisotélicos imaginários, talvez, é que Nietzsche excluiu-se de e convidou outros a se excluírem exatamente daqueles tipos de prática e exatamente daqueles tipos de relação em que e por meio do qual nós aprendemos como se tornar agentes praticamente racionais e como exercitar tais virtudes sem a qual a deliberação racional não é possível.”)
Em outras passagens, no entanto, especialmente onde as ações ilícitas dos poderosos estão em jogo, MacIntyre escreve com grande vivacidade; e, em outras, detecta, por debaixo de uma superfície argumentativa fria e mensurada, o coração de um Amós ou Isaías, ardendo com uma raiva justa. A palavra “justo” raramente é hoje aplicada a pessoas diferentemente como para leis e instituições, mas aqui ela é apropriada. MacIntyre é um homem justo, bem como um grande pensador.
Leia mais
- A dimensão comunitária de Lima Vaz, Taylor e MacIntyre. Entrevista especial com Elton Vitoriano Ribeiro. Revista IHU On-Line, N° 374
- Lima Vaz, Taylor e MacIntyre: perplexidade em relação à situação da sociedade. Entrevista especial com Elton Vitoriano Ribeiro. Revista IHU On-Line, N° 396
- A autonomia em lugar da eudaimonia: a novidade da filosofia moral kantiana. Entrevista especial com Rejane Schaefer Kalsing. Revista IHU On-Line, N° 417
- A atualidade de Tomás de Aquino. Entrevista especial com Jean Lauand. Revista IHU On-line, N° 198
- David Hume e os limites da razão. Revista IHU On-Line, N° 369
- Obra de Tomás de Aquino ilumina Idade Média
- Kant e Nietzsche e a autodeterminação como fundamento da autonomia. Entrevista especial com Oswaldo Giacoia. Revista IHU On-Line, N° 417






